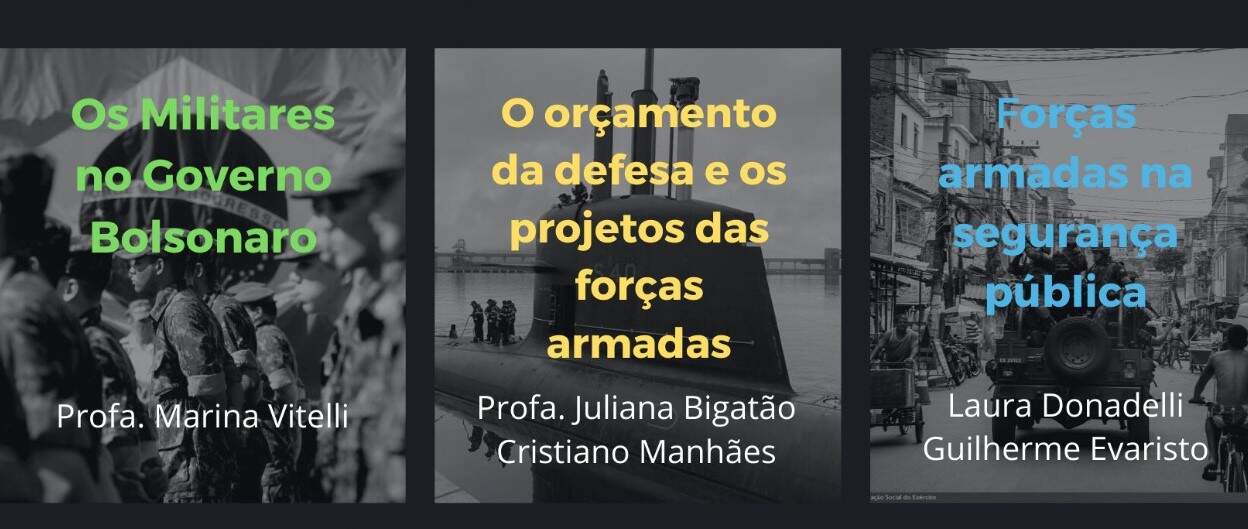O noticiário internacional recente se devotou, em larga escala, ao caso Sergei Skripal e suas repercussões sobre as relações entre as grandes potências. Sem prover evidências conclusivas, o Reino Unido – onde, em 4 de março, foi envenenado o ex-agente duplo da inteligência militar russa – logo responsabilizou Moscou pelo ocorrido e ordenou, dez dias depois, a expulsão de 23 diplomatas da embaixada russa no país.
Os EUA prontamente se solidarizaram com seu tradicional parceiro transatlântico. Em 15 de março, em nota conjunta assinada com o Reino Unido, a Alemanha e a França, Washington compartilhou o diagnóstico britânico de que não haveria “alternativa plausível” à “altamente provável” autoria do governo russo no caso. No final de março, a condenação norte-americana ganhou impulso com a expulsão de diplomatas russos dos EUA, decisão que rapidamente suscitou medidas recíprocas da Rússia.
A escalada das retaliações em torno do caso Skripal contribuiu para o agravamento das relações entre as duas maiores potências nucleares, e se soma a uma série de outros eventos e tendências que vêm desmentindo as projeções largamente difundidas de uma aproximação entre Rússia e EUA sob Trump. Do ponto de vista russo, a nova administração vem, em muitos sentidos, dando seguimento às práticas e discursos que ocasionaram os cíclicos períodos de azedamento das relações entre os dois países no pós-Guerra Fria. Ao atacar as forças do governo sírio em abril de 2017, por exemplo, Trump sinalizou a persistência do espírito punitivo com que os EUA unilateralmente castigam, via força ou sanções, o que consideram ser os rogue states. O espectro do unilateralismo estadunidense, tradicionalmente criticado pela Rússia por desconsiderar seu poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi reforçado pelas intimidações dirigidas à Coreia do Norte.
No que tange às sanções contra a Rússia ocasionadas por seu envolvimento no conflito na Ucrânia, a administração Trump vem dando seguimento à política de Barack Obama. A remoção das sanções permanece condicional à revogação da anexação da Crimeia e ao fim do apoio de Moscou às repúblicas secessionistas de Donetsk e Luhansk. Na dimensão militar, o atual governo norte-americano foi além da administração anterior ao aprovar a venda de armamentos para a Ucrânia. O apoio de Washington a Kiev corrobora a enraizada visão russa de que o suporte dos EUA aos governos oriundos das chamadas revoluções coloridas constitui tão somente uma plataforma para o avanço do cerco estratégico à Rússia.
A atuação da OTAN, por sua vez, permanece nos moldes criticados por Moscou. O governo Trump vem desmentindo, no discurso e na prática, a visão negativa que o presidente dizia ter sobre a aliança antes da vitória eleitoral. A nova administração vem dando seguimento às iniciativas de Obama no sentido de afirmar a presença militar dos EUA na Europa, bem como desenvolver sua cooperação com os aliados da OTAN para contrapor-se à Rússia. O tema da expansão, por sua vez, continua em voga: embora efetivamente bloqueada nas fronteiras russas pelas ações militares de Moscou na Geórgia (2008) e na Ucrânia (2014), a agenda do alargamento da aliança tem sido compensada por novas incursões nos Bálcãs, região que tem figurado crescentemente no discurso antirrusso de oficiais estadunidenses.
Em junho de 2017, Trump autorizou a entrada do Montenegro na OTAN, coroando um processo pesadamente racionalizado com base na ameaça russa. A aliança encaminha, ainda, a admissão da Macedônia em suas fileiras. Embora se trate de uma região que não figura entre as prioridades da política externa russa – o que significa que eventuais expansões provavelmente não suscitarão reação significativa por parte do Kremlin –, a atuação da OTAN nos Bálcãs, em conjunto com as iniciativas de fortalecimento da aliança de um modo geral, dão continuidade às formas de exclusão da Rússia do sistema de segurança europeu capitaneado pelos EUA. A percepção da ameaça russa que vem racionalizando tal processo acentua ainda mais as incompatibilidades entre Washington e Moscou.
Por fim, os documentos estratégicos da gestão Trump aprofundaram a narrativa da ameaça russa à primazia global estadunidense. A Estratégia de Segurança Nacional publicada em dezembro de 2017 repetidamente menciona a Rússia, ao lado da China, como principal desafiadora dos EUA no sistema internacional. Utilizando “táticas subversivas”, Moscou estaria desafiando o “poder, a influência e os interesses” dos EUA em busca de construir um mundo “contrário a seus valores”. O documento elenca uma série de diretrizes necessárias para conter a “subversão e a agressão” russas. Na Revisão de Postura Nuclear e no Resumo da Estratégia Nacional de Defesa, ambos de 2018, o tema da ameaça russa (e chinesa), com os correspondentes deveres de contenção a serem assumidos pelos EUA, também é recorrente.
As desmentidas expectativas de uma aproximação entre os dois países devem-se, largamente, a um clima geral bastante negativo e beligerante sobre a Rússia e Vladimir Putin nos EUA em virtude da suposta ingerência de Moscou na eleição presidencial norte-americana de 2016. Tal atmosfera é alimentada por uma cobertura midiática de contornos histéricos sobre o assunto, cujos reflexos têm sido sentidos no campo político. As acusações de conluio com o Kremlin desafiam a legitimidade do mandato de Trump e constituem importante constrangimento para que o presidente dos EUA busque uma aproximação com a Rússia.
Nesse sentido, congressistas democratas e até mesmo copartidários republicanos de Trump, por vezes utilizando linguagem que beira o cômico, têm cobrado atitude mais firme contra a Rússia. Em março último, as pressões por punições a Moscou se consubstanciaram em legislação que resultou em medidas concretas tomadas pela Casa Branca, como as sanções impostas a entidades e cidadãos russos acusados de interferir na eleição estadunidense de 2016. No início de abril, em combate à “atividade maligna global” da Rússia, as autoridades dos EUA anunciaram mais sanções a indivíduos e empresas ligados ao governo russo.
Se tal quadro de inimizade contraria muitas predições sobre o período Trump, o mesmo não se pode dizer da perspectiva daquele que é certamente o personagem principal das atuais desavenças entre Rússia e EUA, Vladimir Putin. Em uma das entrevistas concedidas ao cineasta norte-americano Oliver Stone, o presidente russo foi perguntado sobre suas expectativas quanto ao mandato do então recém-eleito Donald Trump. “Esse é o seu quarto presidente [dos EUA], estou certo? O que muda?”, perguntou Stone. Calejado pela experiência de quase duas décadas lidando com líderes dos EUA, Putin respondeu rapidamente, sem esconder o sarcasmo denunciado por seu discreto sorriso: “Quase nada”.
A resposta transparece a percepção de um caráter aparentemente imutável das posições dos EUA sobre a Rússia. Na ótica russa, a permanente incongruência entre os dois países deve-se à insistência dos EUA em afirmar sua posição hegemônica em nível global, fundamentada na conservação da supremacia política, econômica e militar do país. Desde o fim da Guerra Fria, esse esforço tem subtendido as tentativas de sufocamento de qualquer polo de poder independente e contestador da hegemonia de Washington. Nesse sentido, o America First de Trump, ao atribuir mais ênfase à ação unilateral e ao poder dos EUA, pode soar mais cru e agressivo do que American Leadership ou qualquer outro slogan mais vendável produzido por políticos e acadêmicos norte-americanos. Contudo, como atestam as tendências e decisões mencionadas acima, o governo Trump compartilha, em essência, o objetivo básico de conservar a primazia inconteste dos EUA no sistema de Estados.
No que diz respeito à Rússia, esse esforço assumiu diversos matizes. Nos termos do russólogo britânico Richard Sakwa, passou-se da “contenção branda” (soft containment) para a “contenção dura” (“hard containment”): enquanto a primeira variante, mais saliente nas duas primeiras décadas do pós-Guerra Fria, reprimia a Rússia de forma implícita pelo não compartilhamento do poder decisório, a segunda, impulsionada pela crise ucraniana, enfatiza elementos de pressão, coerção e isolamento. Ambas compartilham, todavia, a visão fundamental da Rússia como um rival definitivamente derrotado na Guerra Fria e, por isso, indigno de tratamento equitativo.
Como destacou recentemente o analista russo Dmitri Trenin, essa percepção choca-se de modo frontal com um consenso historicamente enraizado na elite de seu país: a percepção da Rússia como uma eterna grande potência que, não obstante eventuais disparidades de poder, deve sempre conservar sua autonomia, identidade e posição de igualdade perante os Estados mais poderosos. Em sua versão putinista, essa espécie de excepcionalismo russo se traduz na preferência por um concerto de grandes potências à frente da política internacional, no qual a superioridade de capacidades dos EUA conviveria e seria balanceada pelo compartilhamento do poder decisório com a Rússia e outras potências. A consecução desse objetivo não descarta o uso da força para resguardar os interesses russos, inclusive em teatros antes tidos como espaços dominados pelos EUA, como o Oriente Médio.
A assertividade da Rússia de Putin faz com que o país, mesmo que não seja percebido como competidor estratégico mais sério dos EUA a longo prazo – posto que pertence à China – assuma a representação de um rival bastante indigesto para a elite norte-americana. Por isso, dentro das fronteiras que a dissuasão nuclear permite, ela deve ser punida por sua insistência em não se submeter aos imperativos estratégicos dos EUA. As recentes mudanças na composição do governo Trump sinalizam a possibilidade de manutenção, ou mesmo de aprofundamento, desse direcionamento. Figuras como Mike Pompeo, que assume a função de secretário de Estado, e John Bolton, designado como assessor de segurança nacional no lugar de Herbert McMaster – que já se notabilizara por posição pouco amigável sobre a Rússia –, são conhecidos por suas visões negativas sobre Moscou. Não por acaso, suas nomeações repercutiram negativamente na Rússia e geraram expectativas de continuidade das pressões vindas dos EUA.
A responsabilidade a priori atribuída por Washington a Moscou no caso Skripal, assim como a retaliação que a seguiu, são indicativos desse estado de hostilidade e de predisposição ao conflito. Levando em conta esse contexto, as ações dos EUA de Trump podem ser compreendidas como o aproveitamento de um pretexto útil para prosseguir no caminho das sanções e outros tipos de punição à Rússia. Elas contribuem, desse modo, para perpetuar as incongruências que as lideranças dos dois países possuem sobre a ordem internacional e a posição que nela ocupam seus Estados, sinalizando o quão difícil pode ser a concretização do cenário de relaxamento duradouro nas relações entre Rússia e EUA.
Imagem: Putin com o presidente Trump. Por Kremlin.
Gustavo Oliveira Teles de Menezes é mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (Unesp, Unicamp, PUC-SP).