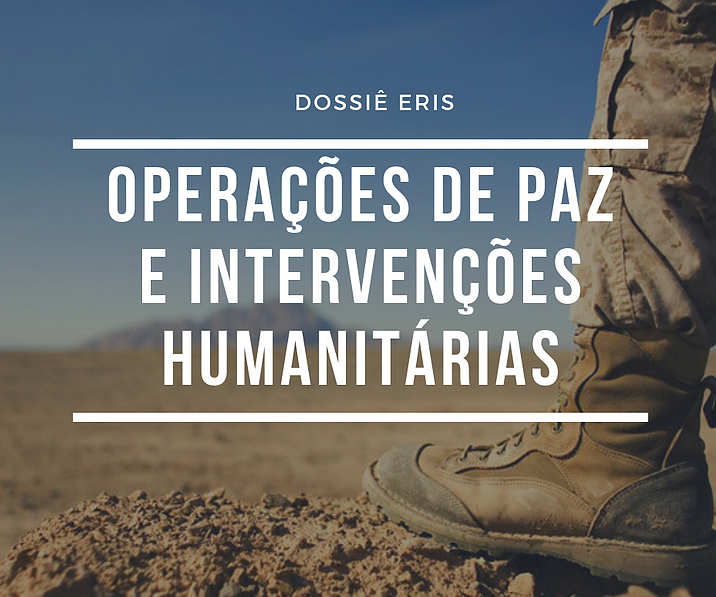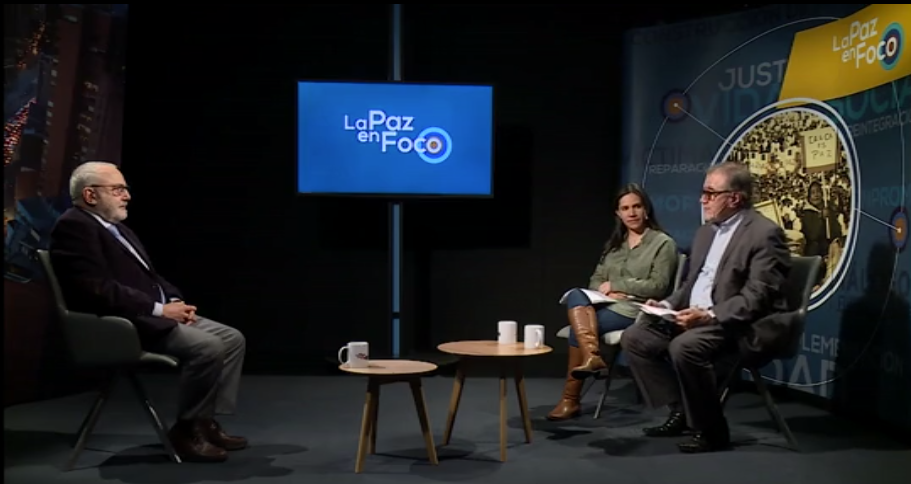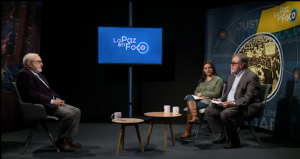Os ataques de Jair Bolsonaro à memória dos presos políticos, torturados e executados pelo Estado brasileiro durante a ditadura militar (1964-1985) devem ser interpretados como um assalto à democracia brasileira. Seria ingênuo afirmar que as manifestações raivosas e mentirosas do presidente quanto à memória de Fernando Santa Cruz são o ápice de uma comunicação verborrágica e que demonstra o desafeto de Bolsonaro às instituições democráticas. A carreira política do capitão da reserva do Exército brasileiro foi erigida sobre declarações e posicionamentos violentos e inverossímeis; não é inusitado antever a recorrência de falas virulentas. Listamos a seguir alguns dos episódios indignantes de louvor do atual presidente da República ao autoritarismo.
O atual chefe do Executivo constantemente se apresentou como uma personagem afeita à ditadura militar brasileira. Antes de assumir a presidência em 2019, Jair Bolsonaro afirmou que a ditadura brasileira deveria ter executado um número maior de seus oponentes políticos, ostentou imagens repugnantes de chacota à busca de ossadas dos combatentes da Guerrilha do Araguaia, e celebrou solitariamente o golpe de 1º de abril de 1964 em frente ao Ministério da Defesa, no ano de 2013. Durante o rito do impeachment, o voto de Bolsonaro foi precedido de louvores ao reconhecido torturador da ditadura militarCarlos Alberto Brilhante Ustra, responsável, dentre outras dezenas de vítimas, pela tortura da presidenta Dilma Rousseff.
Marca de sua campanha, a falta de compromisso com a memória e a verdade histórica também se fez presente ao zombar da tortura e execução do jornalista Vladimir Herzog 1975, na sede do Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), na cidade de São Paulo. Na ocasião, Bolsonaro afirmou: “suicídio acontece, pessoal pratica suicídio”. Os fatos contrariam as alegações de Bolsonaro. O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos pela falta de investigação e responsabilização dos torturadores de Herzog. Após ser empossado presidente da República, a postura de Bolsonaro permaneceu inalterada. Ao final do mês de março, determinou que o Ministério da Defesa realizasse celebrações nas unidades militares em referência ao início da ditadura militar. O 31 de março havia sido retirado do calendário oficial de comemorações das forças armadas em 2011, no governo Rousseff – mais de duas décadas após o fim do regime. Em julho, contrariou a história da repressão no país, e mesmo documentos oficiais do Estado, ao negar a tortura sofrida pela jornalista Miriam Leitão e a execução de Fernando Santa Cruz. As declarações foram acompanhadas de caracterizações pejorativas das vítimas, atribuindo-lhes a participação em movimentos da resistência armada à ditadura brasileira. Quando questionado acerca da inverossimilhança das declarações, o chefe do Executivo afirmou que os documentos históricos em relação aos mortos durante a ditadura militar são “balela”.
A comunicação verborrágica – que revela a covardia de enfrentar a verdade – também resulta em políticas materiais. Um decreto assinado por Bolsonaro e pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, determinou a alteração de 4 dos 7 membros da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. A nova composição da comissão responsável por investigar crimes da ditadura passa a contar com militares e filiados do Partido Social Liberal (PSL). Em agravo, entre os novos integrantes há defensores do período autoritário, como o deputado federal, Filipe Barros (PSL-PR).
O revigoramento das narrativas estapafúrdias sobre a ditadura militar no Brasil pode ser parcialmente atribuído à incapacidade em investigar os crimes do regime autoritário e responsabilizar seus autores. O empenho da Comissão Nacional da Verdade (CNV) permitiu desnudar parte das violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Instituída durante o governo Rousseff a partir da Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, a CNV teve como objetivos centrais a efetivação do direito à memória e à verdade histórica e a reconciliação nacional.
A proposta de uma comissão que investigasse os crimes da ditadura remonta ao ano de 2004, quando o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou a organização do Arquivo da Intolerância, cuja função era tornar público o acesso documentos referentes a torturas, prisões e desaparecimentos ocorridos durante o regime militar e que estivessem sob a tutela do Estado brasileiro. Entretanto, o decreto 4.553 assinado na última semana do governo de Fernando Henrique Cardoso, aumentou o prazo de duração da classificação de documentos ultrassecretos para 50 anos renováveis indefinidamente, “de acordo com o interesse da segurança da sociedade e do Estado”. A conjuntura política à época, somada ao debate público que surgiu sobre o tema e às barreiras impostas pelas forças armadas, postergaram a efetivação do projeto do presidente Lula (SAINT-PIERRE; WINAND, 2007, p. 69).
A comissão atuou durante o governo Rousseff, em meio a debates relacionados à revisão da Lei da Anistia brasileira (1979) e ao aniversário de 50 anos do golpe de 1964. Temas sensíveis trabalhados pela Comissão, como a execução dos componentes da Guerrilha do Araguaia e a participação brasileira na Operação Condor, estiveram entre os debates da CNV e foram divulgados pelos principais veículos de comunicação do país à época. A operacionalização da CNV, contudo, foi seguidas vezes obstaculizada pelas forças armadas brasileiras, interessadas em evitar o acesso e a divulgação de documentos que comprovassem sua responsabilidade na repressão violenta (WINAND; BIGATÃO, 2014).
Após mais de dois anos de extensivos trabalhos de pesquisa documental e coleta de depoimentos, a Comissão publicou em três volumes seu relatório final, entregando-o em 10 de dezembro de 2014. De lá para cá, mesmo as aparentemente incontestáveis e exequíveis recomendações ali permaneceram. Apesar dos esforços de investigação e identificação dos responsáveis conduzidos pela CNV, seu empenho não ecoou entre representantes políticos e seu eleitorado. A onda autoritária contemporânea no Brasil aderiu a narrativas deturpadas sobre o período ditatorial.
Os projetos brasileiros para a conservação da memória e para a garantia do direito à verdade em relação à ditadura militar permanecem tímidos diante da ação de outros Estados para a preservação da história de regimes autoritários. Em outros países sul-americanos, assim como nos países que outrora foram ocupados pelo fascismo e o nazismo na Europa, a marca indelével da violência de regimes autoritários é reavivada no cotidiano como sinal de respeito às vítimas do passado e lembrete às novas gerações. Para além das comissões da verdade instaladas ainda na década de 1980, Argentina, Chile e Uruguai, sediam edificações destinadas à preservação da história dos regimes autoritários. Um olhar para essas experiências internacionais pode contribuir para aventarmos iniciativas de preservação da verdade no Brasil.
No Chile, o Parque por La Paz Villa Grimaldi, resignificou um centro de sequestro, tortura e extermínio gerido pela Dirección de Inteligencia Nacional. Na cidade de Santiago, o Museo de la Memoria y los Derechos Humanos garante visibilidade às violações de direitos humanos cometidas pelo Estado entre 1973 e 1990 e tem como missão estimular debates para que as atrocidades da ditadura de Pinochet não se repitam. Na Argentina, o Archivo Provincial de la Memoria, na cidade de Córdoba, é apenas um dos monumentos de preservação da história recente de autoritarismo e violência. Em Buenos Aires, o Parque de la Memoria recorda “as vítimas do terrorismo de Estado”; enquanto o Museo de la Memoria de Rosário mantém vívida a memória das crianças sequestradas pelo Estado argentino. Em Montevideo, no Uruguai, o Centro Cultural Museo de la Memoria possui uma exposição permanente com objetos, fotografias e documentos que retratam as prisões, a resistência popular e o exílio.
Que seja inequívoco: a defesa dos valores democráticos demanda posturas intransigentes diante da ressaca do autoritarismo. Hoje, esse movimento requer um inabalável apreço pela verdade e um profundo respeito pela memória daqueles que, lutando pelo retorno da democracia e da liberdade, foram aprisionados, torturados ou executados pela ditadura. O resguardo da verdade histórica contribui para a identificação dos arroubos autoritários e de suas manifestações violentas no presente e evita o seu ressurgimento erigido com base em narrativas distorcidas.
Referências Bibliográficas:
SAINT-PIERRE, Héctor Luis; WINAND, Érica. O legado da transição na agenda democrática para a Defesa: Os casos brasileiro e argentino. IN: Controle civil sobre os militares e política de defesa na Argentina, no Brasil, no Chile e no Uruguay. Org: Héctor Luis Saint-Pierre. São Paulo: Editora UNESP: Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UNESP, Unicamp, e PUC-SP, 2007.
WINAND, Érica Cristina A.; BIGATÃO, Juliana P. A política brasileira para os direitos humanos e sua inserção nos jornais: a criação da Comissão Nacional da Verdade. Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos. v. 2, n. 2. 2014. p. 41-52.
Leonardo De Paula e Laura Donadelli são pesquisadores do GEDES e, respectivamente, mestrando e doutoranda pelo PPG RI San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP).
Imagem: Comissão Nacional da Verdade. Por: Júlia Lima/ PNUD Brasil.