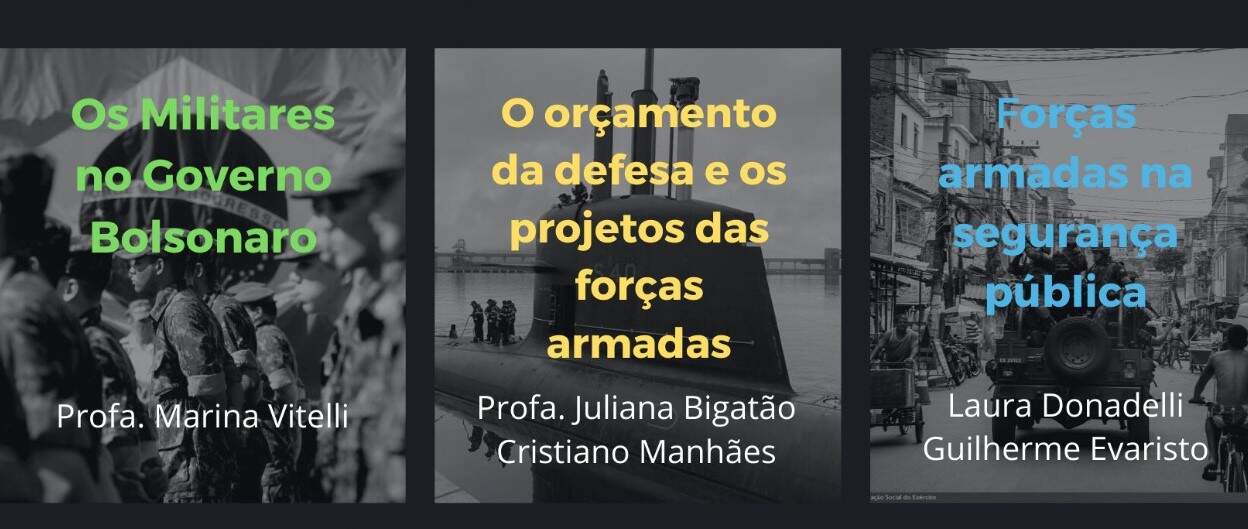Durante a reunião de chefes de Estados que formalmente fundou a União Sul-americana de Nações (Unasul), em maio de 2008, o então presidente brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, afirmou que uma “América do Sul unida mexerá com o tabuleiro do poder no mundo”. A frase de Lula explicitava a ambição geopolítica inscrita na fundação do bloco: dotar a região de maior protagonismo na política internacional. Também ficava implícita a busca por ampliar graus de autonomia estratégica – ou seja, tomar decisões próprias ao contrário de ter seu destino determinado externamente. A ambição brasileira também se apresentava no objetivo de aumentar prestígio na política internacional. O país uniu-se com China, Rússia, Índia e África do Sul – os BRICS – um grupo que significava a fundação de uma narrativa de desafio à hegemonia do Ocidente no sistema internacional, em outras palavras, dos Estados Unidos e da Europa.
Contudo, atualmente, a situação e possibilidades da América do Sul, e do Brasil em particular, apresentam-se de outra maneira. Parte importante dos governos que decidiram pela criação da Unasul deixaram o poder – por eleições diretas ou outros mecanismos. Mais relevante ainda, a situação econômica é desfavorável, os anos do boom das commodities estão no passado e a região enfrenta um momento de crise econômica. O caso brasileiro é o mais representativo: de busca de maior protagonismo e prestígio global passou-se a um momento de imobilismo em Política Exterior.
Nesse contexto, grande parte dos Estados sul-americanos retomam parcerias mais sólidas com os países centrais, especialmente os Estados Unidos. Em certos sentidos, é possível argumentar que o momento é de retorno aos anos 1990, época de pensamento único em termos econômicos e no qual a hegemonia da potência norte-americana reforçou-se sobre a região. Exemplo nítido foram as “relaciones carnales”, o alinhamento quase automático, que a Argentina buscou com os EUA durante o governo de Carlos Menem (1989-1999).
Entretanto, essa conclusão ignora mudanças no sistema internacional e nas relações entre grandes potências na contemporaneidade. Enquanto na década de 1990 a expectativa era a expansão da ordem liberal internacional, contemporaneamente a mesma passa por desafios internos e externos. Em relação a estes, o crescimento chinês e o desafio russo são os mais importantes, já entre os primeiros, a polarização interna e o avanço do conservadorismo e nacionalismo nos Estados Unidos e na Europa.
O governo dos Estados Unidos tem agido de forma unilateral, enfraquecendo as instituições internacionais e promovendo nacionalismo econômico. O presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos de iniciativas multilaterais, como as negociações comerciais relativas ao Tratado Transpacífico (TPP) e os acordos de Paris sobre mudanças climáticas. Além disso, promove um questionamento importante à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ao não se comprometer explicitamente com a segurança coletiva e demandar que a Europa ‘pague a conta’ dos gastos em Defesa. Por outro lado, é um momento de baixa atenção à América do Sul, que é praticamente esquecida no discurso presidencial e convive com a demora na nomeação de funcionários. A Argentina, por exemplo, segue sem embaixador oficial desde que Trump assumiu o posto e o Secretário-Assistente Departamento de Estado para as Américas não foi formalmente nomeado.
A eleição de Trump não era o cenário esperado pelos governos que buscavam o aprofundamento das relações. As renúncias dos chanceleres na Argentina e no Brasil, apesar de justificadas por questões estritamente pessoais, sugerem as dificuldades em criar uma agenda positiva para aqueles que definiam seu objetivo como “voltar ao mundo”. Como ressaltado pela chanceler argentina, a inserção internacional depende do “elemento mundo”, nem sempre previsível ou favorável à estratégia escolhida.
Já o desafio externo a ordem liberal– não tanto ao sistema como tal, mas à liderança dos Estados Unidos –expressa-se localmente pelo aumento da presença chinesa nas últimas duas décadas. O país asiático tem buscado aproximar-se da região não apenas do ponto de vista comercial, mas também investindo em infraestrutura. Esse desdobramento pode modificar a configuração geoestratégica conectando o Atlântico ao Pacífico, seja através de uma estrutura viária na América do Sul ou pelo previsto canal na Nicarágua. As mudanças políticas não alteraram a situação. No caso argentino, o presidente Maurício Macri não reverteu as relações estabelecidas pelo governo anterior com a China. Atualmente, a celebração de acordos de segurança com a potência norte-americana é contrabalanceada pelos investimentos do asiático em temas sensíveis, como o espacial e o nuclear.
As consequências das modificações globais são importantes para a América do Sul. Embora as condições internas dificultem uma estratégia de maior autonomia, há maior espaço que nos anos 1990 para diversificar parcerias. Por outro lado, embora dificilmente torne-se comparativamente uma região objeto de disputas acentuadas entre as grandes potências, é factível imaginar que no longo prazo os EUA reagirão às maiores dificuldades de manter o “hemisfério ocidental” como uma região de seu predomínio inconteste.
Lívia Peres Milani é doutoranda em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) e pesquisadora do GEDES.
Imagem: Brasil, América do Sul. Por: OpenClipart-Vectors.