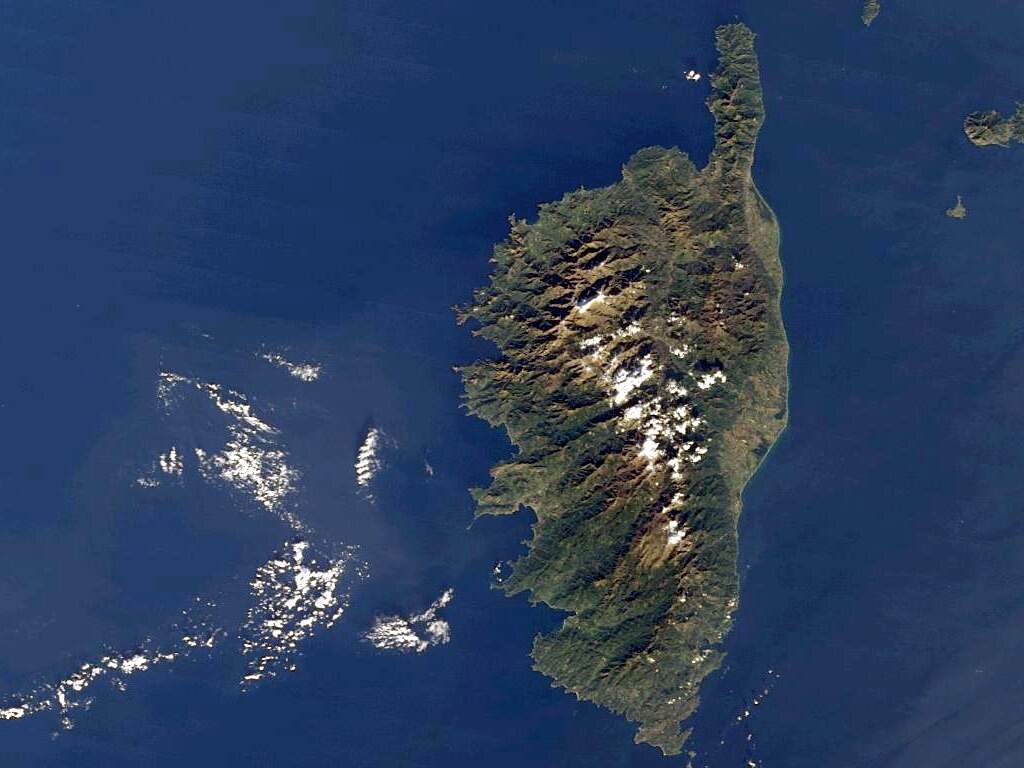Ana Penido*
O povo colombiano elegeu, em 19 de junho de 2022, seu novo presidente, o senador Gustavo Petro, ex-guerrilheiro; e sua nova vice-presidente, Francia Márquez, mulher negra, ativista ambiental e defensora dos direitos humanos. Formou também uma das maiores bancadas de esquerda da história do país, além de reduzir o espaço do uribismo, que dominava a política há 20 anos. O contexto eleitoral foi de aumento da violência política e social em níveis anteriores aos dos acordos de paz, com ampla atuação de grupos paramilitares. Desde o início de 2022, 76 lideranças políticas de esquerda foram assassinadas.
Petro e Márquez tomaram posse dia 07 de agosto de 2022, em cerimônia que contou com a presença da ex-presidenta brasileira Dilma Rousseff. No dia 19 de agosto, o presidente fez seu primeiro discurso direcionado aos militares colombianos, durante a posse do Major-General Henry Armando Sanabria Cely como novo Diretor Geral da Polícia Nacional Colombiana. Dada a importância da fala e o desejo de ampliar sua circulação, o discurso foi traduzido a seguir e aqui é sumariamente comentado.
Inicialmente, alguns possivelmente estejam se questionando: ‘Por que trazer um discurso presidencial feito em uma atividade policial na Colômbia para a reflexão sobre as relações entre as forças armadas e a sociedade no Brasil?’
A Colômbia é um grande exemplo da policialização das forças armadas e da militarização da polícia nacional, consolidadas por décadas sob os auspícios estadunidenses. A Polícia Nacional colombiana está, desde 1953, subordinada ao Ministério da Defesa junto à Marinha, Exército e Força Aérea. Sua principal atividade é o combate ao narcotráfico no meio urbano e rural, uma atualização da Doutrina de Segurança Nacional que identifica entre os cidadãos colombianos inimigos potenciais.
O país reúne uma combinação explosiva: movimentos insurrecionais, paramilitares, um recente acordo de paz, assassinatos de lideranças políticas, alta injeção de recursos pelos EUA, grandes organizações criminais com atuação internacional, décadas de governos neoliberais e índices de desigualdade social elevados. Nesse sentido, a Colômbia representa talvez a pior correlação de forças possível no continente para reformas na área de segurança.
Mesmo com o campo minado, Gustavo Petro, primeiro presidente do país com origem política na esquerda, vem fazendo e propondo mudanças profundas. Junto ao seu Ministro da Defesa, Iván Velasquez, enviaram para a reserva um grande grupo de oficiais, em torno de 24 generais da Polícia, 16 do Exército, 6 da Aeronáutica e 6 da Marinha, promovendo com isso uma ampla renovação da cúpula militar. Petro afirma que as forças militares na Colômbia precisam se tornar um Exército da Paz, e vem abrindo caminho doutrinário e prático nesse sentido.
Em termos de doutrina, Petro propõe a adesão ao conceito de segurança humana, que toma o indivíduo como centro, e não o Estado, por exemplo. Num enfoque mais restrito, o conceito trata de fatores que ameaçam a segurança física do indivíduo, como conflitos armados. Num enfoque mais amplo, trata de fatores que ameacem o bem estar, o desenvolvimento e a dignidade do ser humano, como fome, doenças, etc. O conceito é parte do alargamento pós Guerra Fria dos Estudos de Segurança. Foi usado em 1994 em documentos do PNUD, que pensou a segurança humana como um estado livre do medo e livre das necessidades, organizadas em sete categorias: econômica, alimentar, saúde, ambiental, pessoal, comunitária e política. Em outros termos, a segurança não seria a ausência de conflito armado, mas um estado em que os direitos básicos individuais e coletivos são garantidos para o desenvolvimento humano com liberdade (Sen, 2000).
O conceito não é livre de controvérsias, e seu emprego na América do Sul exige cautela. Uma crítica que recebe é a sua amplitude, assim como a ausência da análise da interação entre os diferentes fatores de segurança com seus diferentes pesos (Krause, 2013). Outra crítica pertinente é que a securitização de temas em nível internacional abre a possibilidade de respostas militares para muitas questões, por exemplo, intervenções humanitárias em países subdesenvolvidos para resolver problemas de pobreza, legitimando os interesses de grandes potências (Duffield, 2017). Os EUA e a OEA nos anos 2000 classificam uma infinidade de ameaças, indo do terrorismo à pobreza. Entretanto, a pobreza, longe de ser uma ameaça, é um indicativo inequívoco da incapacidade de distribuir riquezas (Saint-Pierre, 2012). Com seus limites, é um conceito extremamente avançado para o histórico colombiano, marcado pelo enfrentamento à guerrilha política e ao narcotráfico.
Petro começa o governo partindo das perguntas corretas. Ao invés de discutir apenas reformas nos meios militares, questiona o que e quem de fato ameaça a sociedade colombiana na atual quadra histórica global. Tendo essas questões claras, passa ao debate de como defender a sociedade, para só então propor para discussão pública (algo raro e salutar para forças de segurança) alterações organizativas e regulatórias. Em seu discurso, Petro propõe reformas concretas e profundas na organização militar, como a equidade de gênero, o aumento da escolaridade, mudanças orçamentárias, e mesmo a porta de entrada única para a carreira na Polícia Nacional, com profundos impactos na hierarquia e na disciplina.
É cedo para avaliar o sucesso ou o fracasso de cada medida sugerida pelo novo presidente. Entretanto, levando em conta o cenário adverso que ele encontra, é inegável o quanto suas proposições de reformas são corajosas. Entendemos que algumas das propostas do novo presidente deveriam ser objeto de discussão também no Brasil, notadamente a problematização sobre o que de fato ameaça o povo brasileiro. Que a tradução desse discurso inspire as forças progressistas que atualmente disputam o processo eleitoral à ousadia.
Referências:
PAIVA, Giovana. Verbete: segurança humana. In: SAINT-PIERRE, H.; VITELLI, M. Dicionário de Segurança e Defesa. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2018.
DUFFIELD, M. Human Security: Linking Development and Security in an Age of Terror. In: KLINGEBIEL, S. (Ed.). New Interfaces between Security and Development: Changing Concepts and Approaches. Bonn: German Development Institute, 2006.
KRAUSE, K. Critical Perspectives on Human Security. In: MARTIN, M.; OWEN, T. (Eds.). Routledge Handbook of Human Security. London; New York: Routledge, 2013.
SAINT-PIERRE, H. L. El concepto de la seguridad muldimensional: una aproximación crítica. In: ALDA, S.; GÓMEZ, V. (Eds.). El concepto y las relaciones multilaterales de seguridad y defensa en el contexto de la Unasur. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado; Uned; Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador, 2012.
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
Ana Penido é doutora em Relações Internacionais pelo Programa San Tiago Dantas (UNESP – Unicamp – PUC-SP). Pesquisadora do GEDES e do Instituto Tricontinental.
Imagem: Foto de Gustavo Petro no dia da posse presidencial/ Por: USAID/Wikimedia Commons.
19 de agosto de 2022
Traduzido por Ana Penido
A todas as mulheres e homens da Polícia Nacional que nos acompanham, comissários, subentendentes, entendentes, oficiais. À Vice-presidenta da República Francia Márques Mina; ao Ministro da Defesa, Iván Velásquez; ao núncio apostólico em sua Santidade e ao decano do corpo diplomático, Monsenhor Montemayor. Aos altos comandantes militares e da Polícia Nacional e às suas famílias. Ao Major-general Elder Bonilla, comandante das forças militares e sua esposa, María Victoria. Ao Major-general Luiz Maurício Ospina Gutiérrez, comandante do Exército Nacional, e sua esposa Lorena. Ao Vice-almirante José Joaquín Amézquita García, chefe do estado-maior conjunto das forças militares. Ao Vice-almirante Francisco Fernando Cubides, comandante da Marinha Nacional, e sua esposa Luci. Ao Major-general Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante da Força Aérea Colombiana. Ao Major-general Armando Sanabria Cely, diretor geral da Polícia Nacional, e sua esposa Maria Fernanda. Ao Brigadeiro-general Carlos Fernando Triana Veltran, diretor da Escola de Cadetes de Polícia Diretor Francisco de Paula Santander, e sua filha Camila. Aos embaixadores e chefes de missões diplomáticas na Colômbia. Aos ministros e ministras, funcionários do governo nacional. Ao fiscal geral da Nação, Francisco Barbosa Delgado, e sua esposa Hualfa. À Prefeita da cidade de Bogotá, Claudia Hernández. Ao General Jorge Luis Vargas Valencia, diretor geral da Polícia Nacional, e sua esposa Cláudia. À representante da Câmara, Susana Gómez. Aos militares, almirantes, diretores de unidades da polícia, suboficiais, alferes, cadetes, oficiais do nível executivo, patrulheiros, etc. Representantes da comunidade inter-religiosa, aos convidados especiais dos meios de comunicação e à cidadania que se faz aqui presente. Saúdo a todos e todas nesse ato oficial para a transmissão do Comando, no qual quero expressar alguns conceitos, algumas ideias, para a discussão pública e para a análise da instituição.
Durante a campanha eleitoral, o tema da segurança na Colômbia foi tema de exame em muitos fóruns, eventos e debates televisivos, e obviamente o das instituições que a garantem. Dizíamos que o conceito de segurança precisava ser transformado no país, pois o que se usava falhou de maneira enorme, levando instituições a quebras significativas da ética e dos direitos humanos.
Propusemos, e é o que propomos agora, mudar o conceito para a segurança humana. A segurança humana não é uma invenção minha, mas uma discussão mundial, cujo cenário são as Nações Unidas. A diferença não é apenas de palavras fáceis de pronunciar, colocando adjetivos à palavra segurança. A segurança humana basicamente muda o objetivo, o conceito mesmo, a essência do que até agora se vinha fazendo sobre o tema.
Temos medido a segurança por baixas: quantos mortos, quantos presos. Dia a dia, a televisão nacional apresenta balanços com esse objetivo, mais ou menos parecidos com os balanços que me eram apresentados quando prefeito dessa cidade, tratavam do mesmo tema. E, não obstante, mortos atrás de mortos, baixas atrás de baixas, neutralizações após neutralizações, os indicadores de segurança não melhoraram.
Ao contrário, muitas regiões do país estão hoje sob o controle de grandes organizações multicriminosas, assim as chamaremos. Máfias lhes chamaríamos mais popularmente, mas estas máfias também se transformaram ao longo dos anos e das décadas. Hoje, o melhor termo que podemos usar são organizações multicriminosas, pois não apenas se dedicam ao narcotráfico, como também podem estabelecer em uma região, em uma parte da cidade, controles não apenas para as drogas e os entorpecentes, mas construir rotas para exportá-las e para o microtráfico, o consumo interno. Passam também a extorquir de forma generalizada bairros inteiros, zonas inteiras das grandes cidades, comarcas rurais inteiras. Não só a extorsão, mas também o sequestro, uma atividade de rendas ilegais que faz com que a sociedade fique submetida, fique sem direitos, fique sem liberdades em muitas regiões da Colômbia. Esses indicadores, reflexo da realidade, aparecem no aumento dos massacres, no aumento dos assassinatos de líderes sociais, no aumento de assassinatos de ex-combatentes, no aumento dos assassinatos em geral, cometidos durante o roubo de um celular por um garoto simplesmente para levá-lo de presente para a namorada. Mesmo com o enfrentamento do crime, temos uma realidade em que a tranquilidade cidadã não aumentou.
Nós queremos propor, então, o conceito que se baseia não no número de baixas, no número de mortos, mas no aumento da vida. É o que chamamos segurança humana. Como em um território concreto, urbano ou rural, em uma jurisdição policial nesse caso, das 34 que existem, o que aumenta é a vida, e não a morte. O que diminui são os massacres, e o que cresce é o desfrute pleno da existência. Como diminuir não somente os riscos causados por um ser humano a outro ser humano, mas também os riscos que incluem a natureza, produto também da ação do ser humano? Como diminuir o risco de inundações, ou o risco de que alguém morra em uma inundação? Como diminuir o risco de morrer, para o conjunto da sociedade? Disso se trata a segurança humana. Portanto os indicadores não são mais o das baixas, mas o das vidas. Os indicadores para avaliar a perícia e o comando, homem ou mulher, de um oficial, de um comissário, um superintendente ou outras funções, deveriam ser sobre como salvar a existência humana.
Como diminuir os riscos de morrer, o que inclui o desmantelamento das organizações multicriminosas? Grandes organizações que, há algumas décadas, nem sonhávamos que poderiam aparecer na Colômbia ou na América Latina. Organizações que apareceram, pois mudou o contexto da sociedade mundial e da economia mundial. O novo contexto da economia mundial de expansão dos mercados gera oportunidades para múltiplos crimes que se podem coordenar desde que exista uma organização que as planeje. Crimes que se tornam internacionais, crimes que atravessam as fronteiras, e que inclusive podem ocorrer ao longo da América. Como não reconhecer que a taxa de homicídios em diversos países latino-americanos em geral, em diversas cidades latino-americanas onde estão hoje algumas das cidades mais violentas do mundo, algumas delas colombianas, as taxas não estão caindo? É o produto de organizações que se movem na escala americana e que podem perfeitamente unir verticalmente, como dizem os gerentes das empresas privadas, podem unir o crime desde a produção da matéria prima, como quando se trata de drogas, até o produto acabado enviado para o consumidor final nos países ricos, nos quais estão os maiores consumidores. Quantos milhares de quilômetros não atravessam esses crimes, quantas realidades sociais vão navegando. Assim como atravessam rios e oceanos, atravessam seres humanos, sua diversidade, seus conflitos, seus problemas, suas necessidades. As organizações multicriminosas aprenderam a navegar nas sociedades das Américas, inclusive, se olhar ainda mais adiante e examinarmos as rotas que atravessam a África e chegam à Europa, veremos também a ampliação dos diferentes conflitos armados na África Subsaariana, na África Árabe, no Sul do Mediterrâneo, nos portos e máfias europeias.
Como enfrentar isso? Como enfrentar desde uma instituição nacional, subordinada à Constituição de 1991 e à sociedade colombiana?
Creio que estamos diante de problemas mais complexos do que a velha Doutrina de Segurança Nacional assentada na falsa crença de que existe um inimigo interno na Colômbia; de que alguém confabula em Marte ou em alguma parte do planeta sobre como causar danos a nós. Não existe inimigo interno na sociedade colombiana. Existem pessoas que sofrem de maneira diferente as circunstâncias em que vivemos nesse país e nesse território concreto. Algumas muito fortes, algumas com possibilidades, algumas com privilégios, algumas com várias capacidades e resistentes. Outras não, outras muito frágeis, territórios excluídos a quem só chegou a Polícia ou o Exército, mas nunca chega o médico ou a médica, o psicólogo, ou sequer a comida. Como enfrentar então essa poderosa organização multicriminosa?
A segurança humana pode construir instrumentos que blindem a sociedade colombiana. Se nosso povo não tem fome, existirão menos crimes. Se nossos jovens puderem entrar em uma Universidade em Catatumbo, Tumaco ou Letícia, onde só 8% dos meninos e meninas podem entrar em uma Universidade. Se conseguirmos que a juventude em Catatumbo consiga ingressar na Universidade, haverá menos crime. Se conseguirmos que um jovenzinho desses bairros aqui perto tenha como levar um celular para a namorada, haverá menos roubo, afinal não temos que discutir os presentes entre namorados em termos criminais. Se conseguirmos que uma série de atividades da sociedade colombiana que hoje são consideradas criminosas, não sejam mais assim consideradas, haverá por definição menos crimes na Colômbia. Quantas coisas criminalizamos que não deveríamos criminalizar! Desde quando um camponês que planta folha de coca é um criminoso? Ele é um simples camponês que não tem mais o que cultivar, pois se ele quiser produzir milho, é uma produção tão cara que não conseguiria sustentar a sua família. Desde quando é um criminoso um jovem que consome drogas, e que deveria ter na verdade acesso a um médico? Creio, portanto, que devemos construir um conceito diferente de segurança humana. Escolher bem quem é que se precisa enfrentar. Não é o pobre, mas a poderosa organização multicriminosa.
E nessa perspectiva então devemos recordar a Constituição de 1991, que diz que a força policial, a instituição, é uma força armada civil, para garantir os direitos e as liberdades de todos e todas os colombianos. Esse é o conceito que está na Constituição, mas na história do país ele não foi concretizado profundamente. Claro, alguém poderia dizer que é por causa do que diz a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que a polícia não deve pertencer ao Ministério da Defesa, o que é uma discussão pública, e a faremos entre nós, entre vocês, o que significa essa opção. Que a polícia deixe de ser um corpo militar em alguns dos seus aspectos, pois a organização multicriminosa não é uma organização militar, como foi a guerrilha, a insurgência e várias das organizações mafiosas que aqui se instalaram. Mas a organização multicriminosa responsável pela insegurança cidadã em muitas regiões da Colômbia não é uma organização militar, então como poderia ser destruída com instrumentos militares?
Se a finalidade da venda de cocaína é ganhar dinheiro (para que mais se venderia cocaína?), e o recurso proveniente da venda da cocaína circula na nossa economia nacional através de megaoperações para a lavagem de ativos, como, através de instrumentos militares, se poderia destruir uma organização para a lavagem de dinheiro? Para destruir uma organização dessas precisamos de computadores, experts em engenharia financeira, expertas em inteligência policial, expertas em transações bancárias a nível mundial. Uma quantidade de capacidades que não se pode caracterizar como militares, e sim como civis, e que precisam ser adquiridas através do estudo, para atingir a mesma altura das organizações multicriminosas, pois elas têm o dinheiro para recrutar os melhores experts civis na matéria da lavagem de dólares.
Muitas vezes apresentamos na televisão habitantes dos bairros populares, por vezes até camponeses, dedicados ao microtráfico e outras atividades ilícitas. Mas quantas vezes foram apresentados os grandes lavadores de dólares da Colômbia, do México, da América? Onde eles vivem? Quais são seus bairros? E de que maneira poderemos levá-los à justiça para que sejam julgados?
Aqui temos um longo caminho por percorrer que tem a ver com a instituição policial. Aquilo que nos proporcione fazer crescer a segurança humana, e desmantelar as organizações multicriminosas. A verdade é que a polícia precisa crescer muito em termos de capacidades. E uma discussão é pensar como um homem ou uma mulher de 19 ou 20 anos que ingressa na instituição pode desenvolver essas capacidades, quando vem também de um mundo com problemas, de uma sociedade com problemas e profundamente desigual.
Creio que parte da transformação não tem a ver simplesmente com a decisão de transferir a Polícia de um ministério para outro, mas é algo mais profundo. Se o ser humano que conforma a instituição, porque a instituição não é uma abstração vazia, jurídica, mas sim é composta por pessoas, se essas pessoas podem gozar com plenitude seus próprios direitos e liberdades. Estou absolutamente convencido de que uma pessoa que esteja dentro de uma instituição policial gozando da sua dignidade humana dentro da instituição, não é capaz de violentar a dignidade humana de uma pessoa fora da instituição. Estou convencido de que quanto mais cresça a dignidade humana na Polícia, mais cuidado terá a Polícia Nacional com o conceito e a realidade da dignidade humana fora da Instituição Policial, nas veredas e nos bairros populares.
A Polícia Nacional não é para perseguir jovenzinhos nos parques. A Polícia Nacional não é para apreender uma banca de alimentos de um vendedor ambulante que vive quase exclusivamente disso. A Polícia Nacional não é para chegar à casa de um camponês e arrastá-lo para prisão porque ele cultivou folhas de coca. 25% dos presos são camponeses colombianos. A única coisa que isso provoca são as guerras secretas e clandestinas nos bairros, uma confrontação crescente e permanente entre cidadãos jovens e jovens policiais. Essa não é a nossa guerra. Assim a Colômbia não está sendo construída, pelo contrário, pode estar sendo destruída. Algo que aconteceu há alguns meses e marcou esse país política e socialmente, e isso não deve se repetir.
A Constituição de 1991 é clara. A Polícia é para a defesa dos direitos e das liberdades de todos e todas as cidadãs. Inclusive os que são oposição a esse presidente e não votaram nele, há que cuidá-los e cuidá-las. Sobretudo da gente humilde e pobre, pois estamos em uma das sociedades mais desiguais do planeta Terra. Isso implica em um Estado que dê a mão firmemente ao que mais sofre, ao mais excluído. À mulher campesina, à mulher negra, ao jovem que é perseguido na realidade por diversas exclusões na sua existência, e que perde as esperanças, e crê que não há possibilidade nessa pátria, e então aceita dois ou três milhões para carregar um fuzil, sendo a carne de canhão das organizações multicriminosas.
Eu creio, e o pedi ao Ministro da Defesa e ao novo Diretor de Polícia que hoje iniciam seus trabalhos, que temos que fazer reformas. Não vamos falar de todas elas aqui, pois está prestes a cair uma grande chuva fruto da crise climática, não vamos analisá-las todas a fundo, mas eu proporia duas, ou três.
A primeira, já em parte alcançada, não sem problemas, pois tudo tem problemas, na Polícia Nacional, foi a igualdade entre homens e mulheres na prática cotidiana, precisamente para que na nossa sociedade a igualdade entre homem e mulher seja uma prática cotidiana [palmas]. Sociedades que culturalmente foram machistas por séculos, em que todos os homens foram educados assim, o machismo persiste na cabeça mesmo inconscientemente. Temos que fazer esforços institucionais para que a mulher possa estar em qualquer instituição, em qualquer parte, incluindo a polícia. Aqui foram feitos esforços e seus resultados são visíveis. Um desfile desses há vinte anos não seria assim, creio eu. Há avanços, e eles precisam continuar. O papel da mulher na polícia deve ser fortalecido, protegido, cuidado. É preciso criar mecanismos de denúncia para casos de irregularidades, para que a mulher sinta que é na Polícia Nacional, talvez dentro de todo o país, o seu espaço mais seguro.
Segunda questão, há mundos sociais distintos. Um é o mundo do intendente e do patrulheiro, que pode chegar a comissário. O outro é o mundo dos oficiais. Esse é um tema que não é apenas da Polícia. Mas quando existem dois mundos diferentes, e passar de um mundo ao outro custa dinheiro, pode acontecer de a capacidade de comando se desfazer. Um comandante que come com os mesmos instrumentos a mesma comida que um patrulheiro, é um comandante melhor. Ele é mais respeitado, mais querido, menos distante. Hoje temos uma Estação de Polícia com 300 patrulheiros, e chega um subtenente que jamais foi patrulheiro na sua existência, então não sabe o que é isso, mas vem para mandar, se produz o choque, a debilidade do comando. Por isso me parece que os dois mundos devem unir-se. Significa dizer que qualquer patrulheiro possa ser general da República simplesmente por mérito e não porque teve dinheiro para fazer o curso [palmas]. O que custa para fazer os diferentes cursos, eu sei que não têm matrícula, mas o que se cobra pelo uniforme, pelos apetrechos, para uma pessoa humilde é difícil conseguir 10 milhões de pesos. Isso deve acabar, pois para isso há um orçamento nacional, e se são organizações públicas, tudo o que há deve ser pago com dinheiro público, e nesse sentido não deve haver cobrança para passar de um mundo para o outro. Estudar nas diferentes escolas da Polícia Nacional deve ser completamente gratuito para os membros da Polícia Nacional, esta é a primeira reforma que lhes proponho.
E que leva a um assunto complexo que quero lhes propor, e que quero que se debata com as bases mesmo dentro da Polícia, para que cheguem opiniões e propostas, pois isso leva necessariamente a que o mundo dos oficiais saia necessariamente do mundo de patrulheiros. Isso significa que não se chega ao Comando por uma porta externa da sociedade, mas pela porta da Patrulha. Que todos os membros da polícia tenham que ser patrulheiros e, através do mérito e de estudar, obviamente, possam ascender. É uma mudança que pode garantir um fortalecimento maior no comando e uma unidade maior na ação em diferentes lugares: que não haja diferenciação social na Polícia, e que qualquer um possa ser general se tiver mérito! Que não seja a condição econômica o que impeça uma mulher ou um homem dentro da Polícia a seguir a carreira até o final, até a cúpula, até que um dia um presidente o despeça com honras, pois acabou o seu ciclo diante da força policial.
E uma segunda proposta, essa tem mais a ver com as forças militares nas quais as pessoas são mais transitórias do que aquelas da polícia. A polícia será melhor se todos os seus integrantes puderem elevar o seu nível de escolaridade. Quando eu falava sobre a organização multicriminosa dedicada à lavagem [de dinheiro], é preciso de inteligência financeira para descobrir as transações ilícitas que não são fáceis de descobrir, e isso implica em ampliar as capacidades profissionais que são diversas, e não são as mesmas exigidas para enfrentar um problema de gangues num bairro popular, onde é preciso entender a antropologia da juventude de hoje. Quando prefeito custei para entender o que dizia num mural da parede, até que descobri o que dizia. Mas para isso é preciso saber, conhecer. Se implementarmos um programa em que, o máximo possível, as pessoas que entram como patrulheiros ou patrulheiras da instituição possam começar juntando a sua atividade diária de trabalho com a educação superior em todas as disciplinas, o que faz com que, além de estudar aqui, é preciso abrir a porta da Universidade pública, e ampliar as escolas para promover a elevação do nível de escolaridade da Polícia até termos uma polícia melhor, mais capaz. Essas capacidades são fundamentais na hora de defender os direitos e as liberdades da cidadania.
Uma pessoa que se aposente por qualquer motivo continuará capacitada para exercer sua profissão na sociedade colombiana sem decair. O que passa com um soldado que saiba manejar um fuzil, e sai da instituição para a sociedade? Ele não é mais um profissional, não lhe dão salário na força militar, ele vai pedir um posto de zelador em um edifício e não consegue, porque sabe manejar um fuzil. A instituição estatal tem que dar capacidades para esses jovens homens e mulheres que estão em instituições armadas, que têm conhecimentos específicos, mas que não se aplicam na sociedade, deve promover as capacidades também para se defender; de tal maneira que a passagem pela Polícia, pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica, seja uma passagem que proporcione ao ser humano que ingressa, sair melhor do que quando entrou em todo tipo de capacidades humanas, o que inclui as capacidades acadêmicas e profissionais.
Um corpo de Polícia mais profissional implica em dinheiro. O que pagava o patrulheiro, deve pagar o Estado; o que paga o cadete ou o alferes, deve pagar o Estado. A educação que teria que encontrar inclusive fora dessas instituições, quem tem que pagar é o Estado. Chegamos a prática de todo governante que é decidir o que é prioritário. Esse dinheiro pode estar sendo gasto em outras coisas. Pode ser que esteja dentro da Polícia, mas gasto em outras coisas. Pode ser que componha os gastos militares, mas gasto em outras coisas. Pode ser que esteja dentro do Estado, mas gasto em outras coisas. Pois eu lhes proponho que todo o gasto com seres humanos é prioritário! As coisas podem esperar, mas o ser humano não. A mulher e o homem que carregam o fuzil são mais importantes que o fuzil, sempre e em todo lugar. O fuzil não dispara sozinho, e inclusive pode ser autodestrutivo. Se o ser humano que está atrás desse fuzil for melhor, teremos mais capacidade, mais garantias de defesa. Uma Polícia que, como diz a Constituição, seja a garantia plena dos direitos e das liberdades da sociedade colombiana sem exceção, desde o mais pobre ao mais rico, mas sabendo que quem mais necessita é o mais pobre.
Portanto, é a aliança Estado-povo, Exército-povo, Polícia–povo, Exército-camponês e camponesa, Polícia-jovem do bairro popular é fundamental estabelecer essa aliança se queremos uma democracia melhor, com mais tranquilidade, mais estabilidade, com desenvolvimento que alcance a toda a sociedade colombiana, para que este país seja muito maior do que é. Obrigado por terem me escutado, felicidades e um aplauso a vocês homens e mulheres da Polícia Nacional.