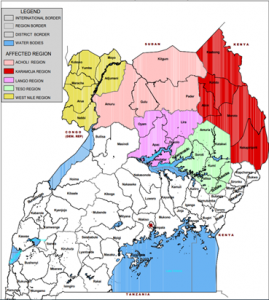Ana Clara Figueira Guimarães: Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais ‘San Tiago Dantas’ (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) e bolsista FAPESP. E-mail: anaclarafigueiraguimaraes@gmail.com.
Jéssica Tauane dos Santos: Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais ‘San Tiago Dantas’ (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) e bolsista CAPES. E-mail: jess.tne@gmail.com.
Atualmente, o Líbano passa por uma das piores crises econômicas desde o fim da guerra civil libanesa que eclodiu em 1975 e só teve fim 15 anos depois, 45% da população vive abaixo da linha da pobreza e o desemprego chega a 35%. O que já é chamado de “catástrofe econômica” catalisou uma onda de protestos que se iniciou em outubro de 2019 e vem desde então chamando atenção. Nos protestos, libaneses acusam o governo de corrupção e incompetência, além de criticarem o sistema político do país que mantém há pelo menos três décadas uma mesma elite política no poder.
O país possui um sistema político confessional, isto é, as cadeiras do parlamento são divididas com base em um critério de filiação religiosa e os parlamentares devem confessar sua religião, entre as 17 confissões reconhecidas, para então ocupar a cadeira destinada àquela religião. Apesar da diversidade de credos, grosso modo, temos dois grupos predominantes: de um lado os cristãos, no qual estão inclusos os maronitas (católicos), os gregos ortodoxos e os gregos católicos; e do outro temos os muçulmanos, grupo formado principalmente por sunitas e xiitas, mas também por drusos.
De acordo com o formato libanês do sistema confessional, 60% das cadeiras de deputados devem ir para as diversas comunidades cristãs enquanto 40% para os muçulmanos. O Pacto Nacional, um acordo não-escrito que institucionalizou esse sistema em 1943, estabelece que o cargo de presidente da República deve ser ocupado por um maronita, o de primeiro-ministro por um muçulmano sunita e o de presidente do Congresso por um xiita.
Embora durante as décadas de 1950 e 1960 o Líbano tenha desfrutado de uma relativa estabilidade em seu sistema político e um significativo crescimento econômico, esse cenário positivo não se estendeu para as décadas subsequentes. O desenvolvimento assimétrico entre setores da economia e o aumento da desigualdade social e regional, ambos decorrentes de um crescimento econômico rápido e desequilibrado, contribuíram para a deterioração da atmosfera política no Líbano. Acrescenta-se a esse quadro, a entrada massiva de palestinos, devido à Guerra Árabe-israelense de 1967 e ao Setembro Negro na Jordânia em 1970, que acabou intensificando a rivalidade entre muçulmanos e cristãos, relacionamento histórico já bastante hostil por conta das disputas políticas.
O estopim da Guerra Civil Libanesa ocorreu em 13 de abril de 1975, quando quatro membros do Kata’ib (Falanges Libanesas), partido político libanês de direita, foram mortos durante um atentado contra Pierre Jumayyil, fundador do partido. O episódio suscitou confrontos entre cristão e palestinos que se espalharam pela capital Beirute e penetraram também para o interior do país, polarizando toda a população.
Essa polarização se deu principalmente em torno de dois projetos políticos. Um deles apresentado pelo agrupamento denominado Movimento Nacional Libanês (MNL), que reunia vários partidos e organizações políticas nacionalistas de esquerda e propunha a extinção do confessionalismo político e diversas reformas democráticas. O outro bloco em disputa era a Frente Libanesa, composta por forças conservadoras lideradas pelo Kata’ib que propunham um plano menos articulado baseado na descentralização política e no federalismo.
Entretanto, o conflito não envolveu apenas esses dois blocos. Ações da Frente Libanesa contra palestinos ocasionaram a ingerência das principais forças da Organização de Libertação da Palestina (OLP) e do Exército de Libertação da Palestina (ELP) ao lado do MNL que, posteriormente, recebeu reforços do Exército Árabe Libanês, formado por dissidentes das forças nacionais. Um outro interessado nos resultados da guerra era o governo sírio, que já vinha mediando negociações diplomáticas e apoiou a eleição de Ilyas Sarkis à presidência. Todavia, o resultado do pleito não foi aceito pelo bloco do MNL, devido à rivalidade entre Kamal Jumblatt, líder do grupo e o presidente sírio, Hafiz al Assad.
Diante de um cenário futuro desfavorável para os interesses sírios uma vez que o MNL vinha sendo bem-sucedido em suas investidas, em maio de 1976, o presidente Assad decidiu intervir militarmente contra o MNL e apesar de ter tido muitas baixas, as tropas sírias acabaram conseguindo sufocar quase que completamente a resistência, dando espaço para a Frente Libanesa se fortalecer.
Concomitante à guerra civil, ocorreram duas invasões do território libanês por tropas israelenses devido à escalada das desavenças e ataques entre Israel e combatentes da OLP que controlavam a região sul do Líbano. A primeira invasão aconteceu em 1978 ocasionando o desdobramento da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) e a segunda foi uma incursão em larga-escala marcando o início da Guerra do Líbano de 1982. Com a guerra, Irã e Síria optaram por apoiar a criação do Hezbollah, um movimento revolucionário islâmico que desejava a retirada das forças de Israel.
Ainda em 1982, não obstante o êxito do estabelecimento de um acordo de paz entre Líbano e Israel, mediado pelos Estados Unidos, o assassinato do presidente recém-eleito Bashir Gemayel, líder da Frente Libanesa e que contava com o amplo apoio de Israel arruinou a execução do acordo e as tropas israelenses permaneceram em solo libanês. Amin Gemayel, foi eleito para substituir o irmão, mas não conseguiu nenhum passo significativo rumo a um acordo de paz.
Em 1988, pouco antes de expirar seu mandato, Gemayel nomeou outro cristão maronita para ocupar o cargo de primeiro-ministro, o que ia contra a determinação do Pacto Nacional no sentido de que o cargo fosse ocupado por um muçulmano sunita. Diante do impasse, a capital acabou sendo dividida, de modo que o lado leste ficou sob influência de um governo cristão e o lado ocidental sob um governo muçulmano.
O fim da guerra e a união dos governos só pôde ser vislumbrado com a assinatura do Acordo Taif de 1989 que marcou o começo do fim da guerra. No entanto, é necessário salientar que a concordância com esse Acordo não significou o término definitivo das tensões, como demonstra o assassinato de René Moawad, que havia sido eleito presidente do país logo após a ratificação.
Apesar da retirada das tropas israelenses em 2000, os ataques entre Israel e o Hezbollah continuaram, levando à eclosão da Guerra do Líbano de 2006, que durou de 12 de julho e 14 de agosto daquele ano. Durante o conflito, 1.109 libaneses foram mortos, sendo a maioria deles civis, 4.399 feridos e cerca de um milhão de deslocados. Em 11 de agosto de 2006, o Conselho de Segurança das Nações Unidas exigiu o fim dos confrontos através da Resolução 1701, que foi aceita tanto pelo secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, quanto pelo gabinete de Israel. Assim, em 14 de agosto um cessar-fogo foi estabelecido e em 8 de setembro o bloqueio naval ao Líbano foi suspenso.
Em 2017, a rivalidade entre Irã e Arábia Saudita ameaçou provocar uma nova crise no Líbano em vista do impacto que conflitos regionais entre esses atores assim como com Israel tem sobre o país. A tensão se iniciou quando o primeiro-ministro libanês, o muçulmano sunita Saad Hariri, anunciou inesperadamente sua renúncia do cargo em um discurso em Riad, na Arábia Saudita. Ele alegou que havia sofrido ameaças à sua vida e acusou o Hezbollah e o Irã de controlar seu país. Nasrallah acusou a Arábia Saudita de ter obrigado Hariri a renunciar objetivando incentivar um ataque contra o Líbano por Israel como forma a debilitar a influência do Irã e do próprio Hezbollah. O presidente libanês, Michel Aoun, disse que só aceitaria a renúncia após conversar pessoalmente com Hariri a fim de esclarecer o ocorrido.
A apreensão geral quanto à possibilidade de uma guerra regional envolvendo diversos países era bem perceptível uma vez que o Irã apoiava o também xiita Hezbollah, enquanto que o governo da Arábia Saudita tinha um relacionamento próximo com a família sunita de Hariri a qual já havia sofrido ataques anteriores do Hezbollah como o assassinato de seu pai em 2005 por um carro-bomba. Dessa forma, a rivalidade entre os xiitas e sunitas enraizada na região poderia abarcar conflitos entre diversos países, como Síria e Iêmen, Iraque e Bahrein e gerar “consequências devastadoras” conforme declaração do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. A situação só foi resolvida três semanas depois, quando a França intermediou as negociações e Hariri retornou para Beirute com o objetivo de reorganizar o governo. Entretanto, a insatisfação da população devido à instabilidade e desordem administrativa figurou dentre as pautas dos protestos, culminando em sua demissão no dia 29 de outubro de 2019.
Desde esse período, o Líbano vive um cenário de protestos e manifestações populares reflexos da imensa desigualdade e crise econômica, que foi agravada pela crise do coronavírus e o consequente confinamento. Uma das propostas de solução para o colapso político seria o estabelecimento de um estado laico, encerrando com o Pacto Nacional que representa a divisão do Estado em diversas religiões. Além disso, o sentimento “antirrefugiado” vem tomando força com a deterioração da economia e o aumento do desemprego, situação essa que desperta a raiva dos libaneses que acabam por culpar os refugiados por “roubar seu trabalho”.
Este tipo de pensamento é ainda alimentado por figuras governamentais, como Gebran Bassil, ministro das Relações Exteriores, que em discurso chegou a defender o envio de sírios para seu país de origem que, vale ressaltar, já caminha para o décimo ano de guerra. As crises do Líbano, que martirizam a população há anos, deixam rastros de sangue no passado – entre 1989 e 2019, foram registradas 5.975 mortes – e prenunciam a continuidade da violência no futuro. Enquanto isso, o país prossegue sua derrocada e a população faminta assiste à deterioração de seu poder aquisitivo sem poder fazer nada para mudar essa realidade a não ser revoltar-se.
Fonte Imagética: https://www.pexels.com/photo/lebanon-revolution-17_october-freedom-3876139/.
REFERÊNCIAS
ALENCASTRO, Luiz F. Atribulações dos libaneses no Líbano. UOL. 3 no. 2011. Disponível em:< https://noticias.uol.com.br/blogs-e-colunas/coluna/luiz-felipe-alencastro/2019/11/03/atribulacoes-dos-libaneses-no-libano.htm >. Acesso em: 30 jun. 2020.
AUMENTA tensão no Líbano diante da queda da moeda e protestos. Correio Braziliense. Mundo. 12 jun. 2020. Disponível em: < https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2020/06/12/interna_mundo,863258/aumenta-tensao-no-libano-diante-da-queda-da-moeda-e-protestos.shtml >. Acesso em: 29 jun. 2020.
ENTENDA as recentes hostilidades entre o Irã e a Arábia Saudita que envolvem o Líbano. G1. 2017. Disponível em: < https://g1.globo.com/mundo/noticia/entenda-as-recentes-hostilidades-entre-o-ira-e-a-arabia-saudita-envolvendo-o-libano.ghtml >. Acesso em: 29 jun. 2020.
GARCIA DA SILVA Matheus; FERNANDES, Marcelo. Líbano: Rebelado contra a miséria, povo ataca bancos e combate a reação com pedras e bombas incendiárias. A Nova Democracia. 26 jun. 2020. Disponível em: < https://anovademocracia.com.br/noticias/13721-libano-rebelado-contra-a-miseria-povo-ataca-bancos-e-combate-a-reacao-com-pedras-e-bombas-incendiarias>. Acesso em: 30 jun. 2020.
GELADEIRAS vazias: um retrato da grave crise no Líbano. G1. 24 jun. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/24/geladeiras-vazias-um-retrato-da-grave-crise-no-libano.ghtml>. Acesso em: 30 jun. 2020.
GRESH, Alain. O velho Líbano resiste à mudança. Le Monde Diplomatique Brasil. Acervo Online. 1 jun. 2005. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/o-velho-libano-resiste-a-mudanca/>. Acesso em: 29 jun. 2020.
KNIPP, Kersten. Drusos, uma minoria sob pressão. Deutsche Welle. Oriente Médio. 9 jun. 2018. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/drusos-uma-minoria-sob-pressão/a-45018802>.
KRAYEM, Hassam. The Lebanese Civil War and the Taif Agreement. American University of Beirut. 2014. Disponível em: < https://almashriq.hiof.no/ddc/projects/pspa/conflict-resolution.html>. Acesso em: 29 jun. 2020.
LEBANON. Uppsala Conflict Data Program (UCDP). Department of Peace and Conflict Research. 2019. Disponível em: < https://ucdp.uu.se/country/660>. Acesso em: 30 jun. 2020.
LEBANON (Civil War 1975-1991). Global Security. 2011. Disponível em: < https://www.globalsecurity.org/military/world/war/lebanon.htm >. Acesso em: 29 jun. 2020.
LEBANON PROFILE – Timeline. BBC. 2018. Disponível em < https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14649284 >. Acesso em: 29 jun. 2020.
LEWIS, Lauren. Lembrando a morte de Rafic Hariri (1944-2005). Monitor do Oriente Médio (MEMO). 14 fev. 2020. Disponível em: <https://www.monitordooriente.com/20200214-lembrando-a-morte-de-rafic-hariri-1944-2005/>. Acesso em: 30 jun. 2020.
PREMIÊ do Líbano cancela renúncia após acordo de governo para evitar conflitos. Agência Brasil. 5 dez. 2017. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-12/premie-do-libano-cancela-renuncia-apos-acordo-de-governo-para-evitar>. Acesso em: 30 jun. 2020.
SANCHA, Natalia. Líbano, retrato de uma revolução. El País. Internacional. 20 fev. 2020. Disponível em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2020/02/20/internacional/1582215668_674056.html>. Acesso em: 29 jun. 2020.
STEAD, Rebecca. Remembering Israel’s 2006 war on Lebanon. Middle East Monitor (MEMO). 2018. Disponível em: < https://www.middleeastmonitor.com/20180712-remembering-israels-2006-war-on-lebanon/ >. Acesso em: 29 jun. 2020.