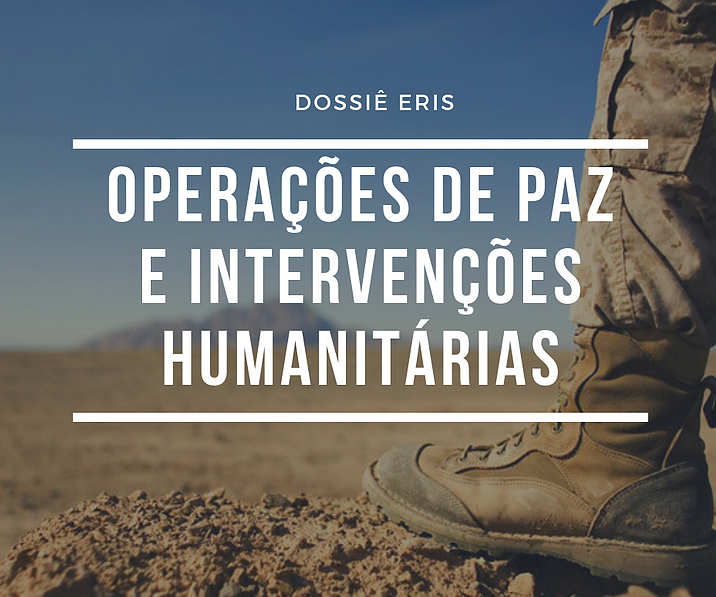Categoria: ERIS


Brasil y Chile, caminos divergentes
17 de fevereiro de 2020
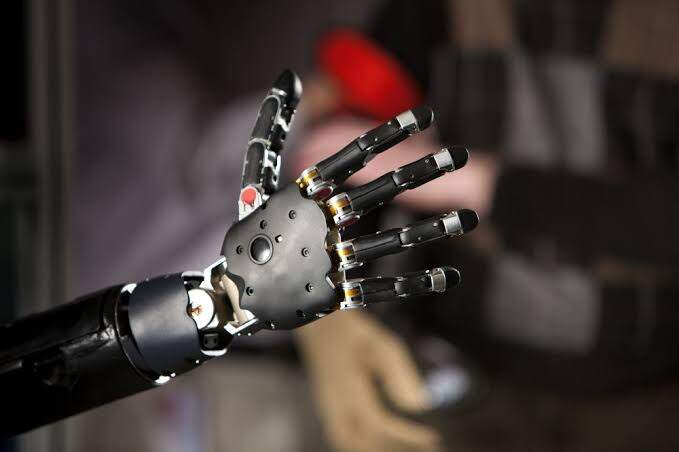
O exército futurista da Rússia: soldados ciborgues
20 de novembro de 2019


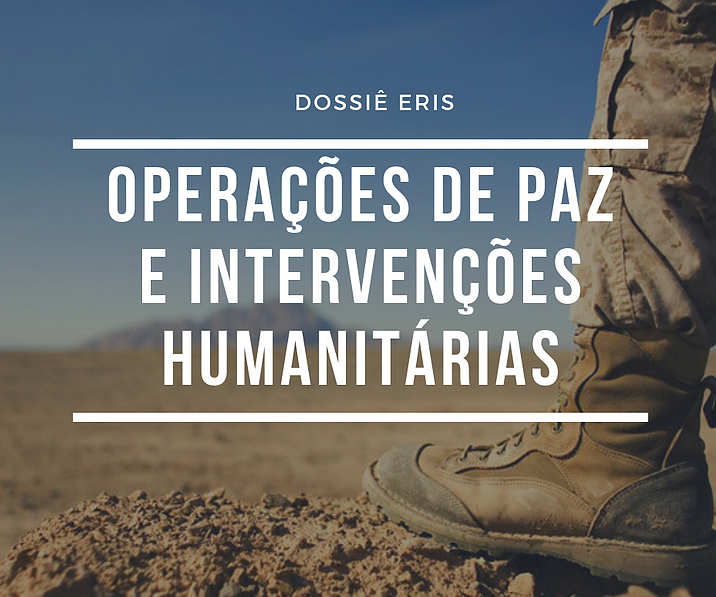
As efemérides humanitárias de 2019: a atualidade dos limites de Ruanda e Kosovo
29 de julho de 2019
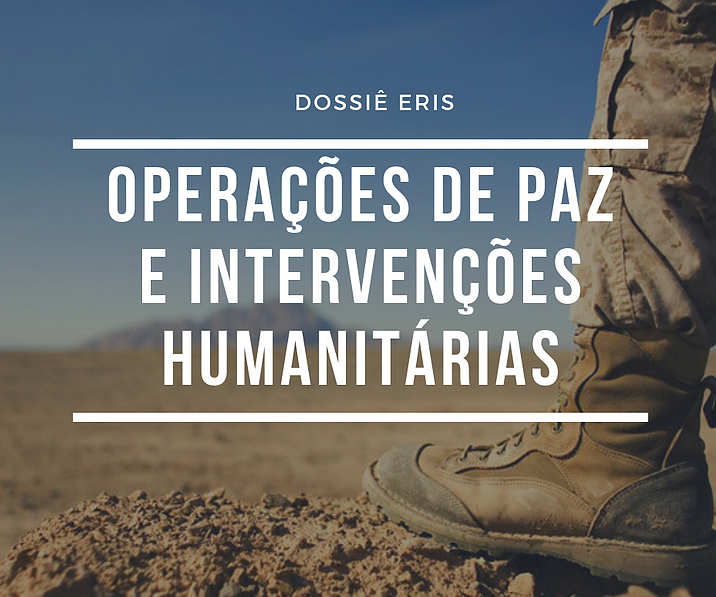

Os Militares do Presidente
1 de julho de 2019