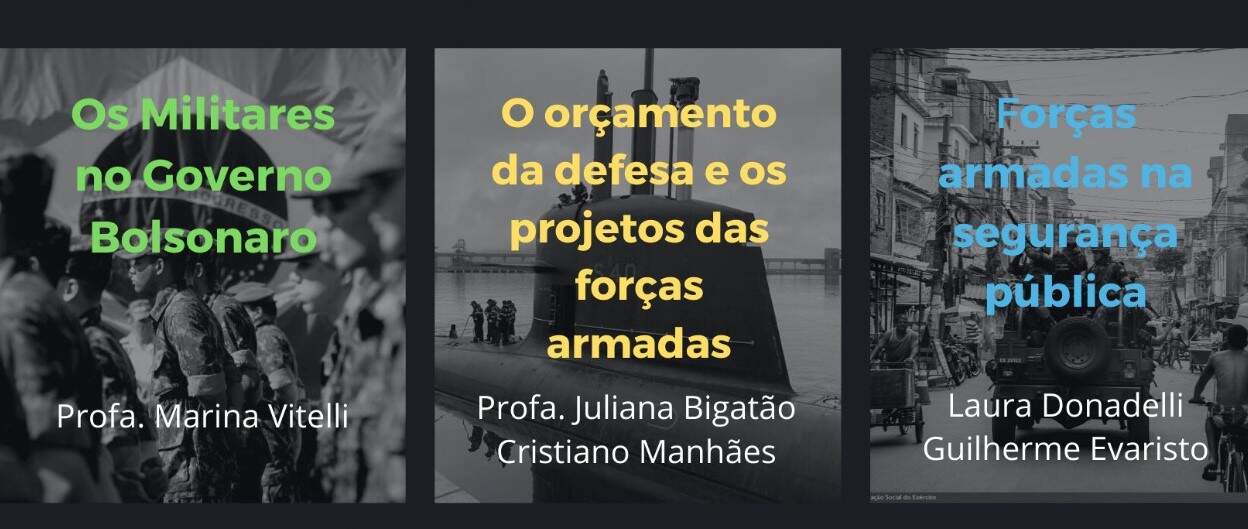Em meio a um festival de incompetências, amadorismos e declarações estapafúrdias que tem se mostrado o governo Bolsonaro, um grupo, em específico, chama atenção por ao menos dois motivos. Em primeiro lugar, porque não devia estar lá. Em segundo lugar, porque tem dado manifestações recorrentes de que é o locus de racionalidade de um governo que mais se assemelha a uma versão mal editada de um reality show. Refiro-me aqui aos militares, notadamente do Exército, que têm ocupado cargos importantes no governo. “Braço Forte e Mão Amiga”, os militares têm sustentado o governo Bolsonaro não apenas executando as missões a eles atribuídas, mas dando ao governo uma dosagem de legitimidade imprescindível.
A face deste fenômeno é, por certo, Hamilton Mourão. Atual vice-presidente da República, Mourão, um militar da reserva, tem chamado atenção pelas declarações que, não raramente, colocam-se em contraposição aos demais membros da equipe de governo, quando não, ao próprio presidente. Sua atuação na Vice-Presidência tem se destacado de tal forma que até mesmo o jornalista Ricardo Noblat, em sua conta no Twitter, realizou uma enquete avaliando o desempenho do general.
Num âmbito geral, Mourão tornou-se a figura governista favorita da mídia brasileira, por um motivo muito simples: o tratamento dispensado ao jornalismo é o que, naturalmente, espera-se de um representante político. Ao contrário do secto bolsonarista, adepto à moda trumpista de deslegitimar a atividade jornalística, Mourão monstra tamanha polidez que lhe rendeu a alcunha de “queridinho da imprensa”. Sua atual aparente sensatez choca-se com as declarações polêmicasemitidas durante a campanha. Em que medida isso representa um recém-adquirido senso de responsabilidade, resta ser avaliado.
De todo modo, uma vez empossado, o agora vice-presidente tem se esforçado, por motivos ainda desconhecidos, para superar o clima de campanha e se colocar a altura do cargo que ocupa – contrastando, assim, com o papel de youtuber do entourage da Presidência. E foi dessa forma que foi percebida, por exemplo, sua declaração quanto ao exílio de Jean Wyllys – sobre as ameaças sofridas pelo parlamentar, Mourão declarava que se tratava de um ataque à democracia.
Mas é no campo das decisões em política externa que se torna mais visível o abismo entre um certo senso de responsabilidade dos militares no governo e os voluntarismos irresponsáveis dos demais membros do gabinete, principalmente do próprio presidente. Fala-se mesmo em um “cordão sanitário” formado pelos militares do governo em torno do chanceler Ernesto Araújo. Nesse campo, ganham destaque as falas do general Augusto Heleno, atual chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), além das afirmações de Hamilton Mourão. Comecemos, pois, pelo vice-presidente:
Mourão foi pivô de assertivas que questionavam diretamente as diretrizes da política externa do governo Bolsonaro, bem como a capacidade de Ernesto Araújo em conduzi-la. Em entrevista concedida à revista Época para a formulação de um perfil do chanceler, Mourão sugeria como chamada: “terá Ernesto condições de tocar e dizer o que é a política externa do Brasil?”. Somado a isso, o vice-presidente tem mantido uma agenda nutrida de reuniões com diversas representações internacionais. Em muitos desses encontros não houve a presença de Araújo e, nas reuniões em que o chanceler participou, cumpriu apenas o papel de pajem. Sua participação no Grupo de Lima, por exemplo, no qual o chancele teve apenas papel secundário ou ainda também na reunião mantida por Mourão com Juan Guaidó, autoproclamado presidente venezuelano, no marco de sua visita ao Brasil. Em suma, seu entendimento sobre a política externa bolsonarista expressa-se na seguinte frase: “está faltando prudência. Não podemos falar qualquer coisa e depois desfalar (sic). Agora é tempo de analisar. Não é tempo de sacar soluções da cartola. A palavra é prudência”.
Não bastasse, tem sido também divergente a abordagem dos militares e do governo em relação à crise na Venezuela. Tanto Mourão, quanto Heleno têm sido enfáticos na negação de que uma intervenção militar no país vizinho faz parte dos planos do governo brasileiro. Durante o período de transição, Heleno ressaltava o trabalho humanitário feito pelas Forças Armadas com os refugiados venezuelanos e pontuava os impedimentos constitucionais a uma incursão militar brasileira na Venezuela. Quando ainda era cotado para ocupar o Ministério da Defesa, na tentativa de pôr fim aos rumores de intervenção, Heleno afirmava que o Brasil não aderiria à defesa estadunidense de uma intervenção militar. Considerando os custos de uma eventual intervenção, declarava: “é constitucional que o Brasil não aceita ingerência de países estrangeiros nos assuntos internos e também não fará ingerência nos assuntos internos de outros países. Então, é isso aí”.
O comportamento dos militares do presidente denota uma elevada familiaridade com o fazer político. Pedimos licença aqui para não nos atermos especificamente à legitimidade de sua atuação política. Dado o processo de formação na caserna, é difícil sustentar que uma vez na reserva os militares deixam de ser militares e passam a configurar como corpo civil. Na verdade, a própria noção de reserva vem acompanhada de um “senso de servir” – os militares da reserva estariam sempre em prontidão para voltar à ativa caso convocados. Seja como for, fato é que a atuação dos militares no governo tem funcionado como um sustentáculo de racionalidade num mar de despautérios. E a pergunta que fica é: mas a que custo?
No dia 13 de novembro de 2018, no marco da nomeação de Azevedo e Silva ao Ministério da Defesa, o então comandante do Exército, Eduardo Villas Bôas, voltou a pontuar que apesar de aprovar a nomeação do militar para o cargo, não haveria de se confundir o número de militares no governo com um governo de militares. Em suas palavras, “embora muitos militares estejam sendo chamados a participar do Governo, isso não significa que o Exército, como instituição, esteja fazendo isso. O Exército continua no seu papel de instituição de Estado, apolítica e apartidária”.
Apesar do paradoxo de suas declarações, quando confrontadas com o fato de que o próprio Villas Bôas hoje faz parte do governo, a preocupação manifestada pelo então comandante dialoga exatamente com nosso argumento. Ao transferirem para o governo a legitimidade institucional de que gozam perante a sociedade, os militares arriscam serem confundidos, em si, com o governo no qual ocupam cargos. Como consequência, expõem-se ao risco de terem não apenas a imagem manchada face à sociedade brasileira, mas principalmente de desprofissionalização de seus quadros.
No bojo da crescente participação militar nos quadros governamentais – fato cujo fenômeno mais recente é o anúncio de quatro programas televisivos para as Forças na TV pública –, as manifestações sobre o Golpe de 1964 chamam especial atenção pelo caráter esdrúxulo e desrespeitoso às vítimas do regime opressor e assassino que se instaurou no Brasil. Após o comunicado de Bolsonaro que incentivava comemorações ao golpe, a cúpula militar manifestou-se – por receio ou prudência – alegando que os eventos deveriam ser conduzidos “de maneira discreta” e “sem manifestações públicas”. Ciosos pelo esquecimento deste período da história brasileira, os militares deparavam-se ali com o que há de mais atroz no governo: a releitura deturpada da história.
Quando Dilma Rousseff instituiu a Comissão da Verdade, a relação entre seu governo e os militares, já deteriorada, rumou à debacle – o que é corroborado por Sérgio Etchegoyen, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, em evento no Instituto Fernando Henrique Cardoso. Tomando sua ação como um ataque direto à instituição, os militares, ao menos tacitamente, passaram a antagonizar a presidenta. O resto da história é conhecido. Agora, aos militares que apostaram na figura de Bolsonaro como ferramenta de retomada do poder via voto, resta a tomada de consciência de que, além deles, o governo é composto por unidades não tão organizadas. Dão-se conta dos desmandos de um Abraham Weintraub na Educação e dos absurdos proferidos por uma Damares Alves, ministra da pasta Mulher, Família e Direitos Humanos. Deparam-se com a influência de um suposto filósofo a quem Alberto Santos Cruz, general e então responsável pela Secretaria de Governo, qualificava como desequilibrado.
Ao fim, do ponto de vista das Forças, a pergunta mais importante é: conseguirão as forças armadas brasileiras terminar o período do governo Bolsonaro sem ter sua imagem maculada? Em se confiando nos dados disponíveis, o cenário não é positivo. É exatamente isso que indica a recente exoneração do próprio Santos Cruz da Secretaria de Governo da Presidência da República. Fruto justamente da disputa entre ala olavista e os militares, a queda de Santos Cruz acaba por confirmar o inevitável: sua presença no governo os coloca na linha de frente das disputas políticas nacionais, fazendo-os sujeitos, inclusive, às mesmas táticas de difamação que elegeram o atual presidente.
Por outro lado, se é certo que a desprofissionalização das Forças é anterior ao seu retorno ao poder, sendo a imagem mais evidente deste processo a crescente participação militar em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), é certo também que sua atuação política é disfuncional em si mesma, demandando atenção redobrada. Num contexto no qual grassa a insensatez, não se pode estar desatento ao simbolismo de uma estrutura de governo cuja equivalência em termos de militarização só se encontra no período ditatorial. Em outras palavras, não podemos cair no canto da sereia.
Em texto escrito para a Revista Piauí, a jornalista Malu Gaspar iniciava com a seguinte chamada: “atacado pelos radicais bolsonaristas, o vice-presidente se coloca como garantia contra solavancos do governo”. A chamada – assim como o título no qual lê-se “Mourão, o avalista” – é representativa da situação que se instaurou no Brasil, quando comparamos as alas mais radicais do governo aos militares. Há uma espécie de excitação geral quanto a participação dos militares na política que se expressa em duas linhas básicas.
Por um lado, tal visão advém do respeito de que gozam as forças armadas perante a sociedade, o que faria com que sua atuação política fosse vista como compromissada com o país e livre de desvios morais. Por outro, tem sido cada vez mais recorrente o argumento de que os militares serviriam como moderadores, impondo limites ao governo. Esta última acepção é particularmente interessante – e preocupante – e se expressa de forma singular na declaração de Gaudêncio Torquato: “eles [os militares] se consolidam como poder moderador e escudo protetor do governo em caso de crise. A simples presença deles inibirá sugestões de alternativas fora da Constituição”.
O que se apresenta problemático não é necessariamente que se tenha uma visão positiva acerca dos militares. Ora, no âmbito da subjetividade somos livres em nossas percepções – ao menos em tese. A questão torna-se mais complexa, entretanto, quando observamos jornalistas e acadêmicos transpondo essa percepção ao exercício de suas funções, numa espécie de agitação esperançosa inapropriada. Lembremos: comparativamente, até mesmo o mandato relâmpago de Fernando Collor pode ser considerado positivo. Tudo é questão de parâmetros.
Em que pese seu recente Media Training, não esqueçamos que foi Mourão quem, caneta em punho, feriu de morte a Lei de Acesso à Informação. Foi também esse mesmo Mourão, ainda na ativa, que insinuou, por diversas vezes, a necessidade de um novo golpe militar no país. Assim, se aceitamos a tese de Marcos Nobre de que a eleição de Bolsonaro representa “a revolta das baixas patentes”, sendo os militares o fator de legitimação e, até certo ponto, organização desse governo, é certo que não podemos admitir, a priori, a normalidade de suas ações ou sequer que tais ações advenham de um senso de responsabilidade imaculado para com o país. Com isso, não intento atacar a instituição, senão que reconheço a singularidade do momento em que vivemos: preparados para a guerra, aos militares não cabe a posição de avalista. Instituições burocráticas do Estado, não lhes cabe assumir o papel de Quarto Poder.
Não obstante as tentativas de militares – dentro e fora do governo – de se afastarem do passado ditatorial, o assunto ainda é muito recente e muito mal resolvido para que não nos atentemos às excepcionalidades. Na ânsia de encontrarmos algum grau de normalidade num governo marcado pelo caos, temos de ter cuidado para não incorrer na normalização da crescente participação e ingerência militar na política – em todo o país, são cerca de 7 mil os postos ocupados por militares. É preciso estar atento e forte.
Autor: Jorge M. Oliveira Rodrigues é mestre em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe. Pesquisador do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional (GEDES) e do Grupo de Estudos Críticos sobre Política de Defesa, Cooperação, Segurança e Paz (COOP&PAZ).
Imagem: Roque de Sá/ Agência Senado CC