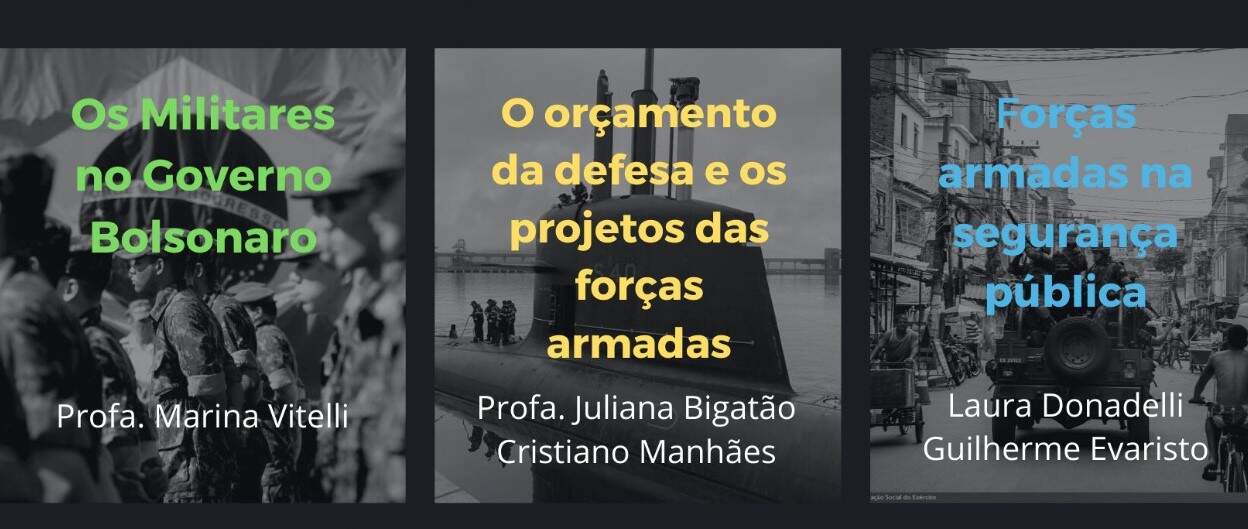Nos primórdios de sua República, os Estados Unidos fizeram uma escolha sobre sua relação com a América Latina […] A doutrina […] [Monroe] afirmou a autoridade para intervir e opor a influência das potências europeias na América Latina […] Hoje, no entanto, fizemos uma escolha diferente. A Era da Doutrina Monroe acabou (KERRY, 2013).
Acho que nos esquecemos da importância da Doutrina Monroe e do que significou para esse hemisfério em termos de manutenção de valores compartilhados. Então, acho que é tão relevante hoje quanto no dia em que foi escrita (TILLERSON, 2018).

As duas passagens acima, que aparentemente se contradizem, são excertos de discursos de Secretários de Estado dos EUA: respectivamente John Kerry, em 2013, e Rex Tillerson, em 2018, durante as administrações de Barack Obama e Donald Trump. Ambas se referem à mesma temática: a Doutrina Monroe, declarada em 1823 pelo ex-presidente que lhe deu o nome. A doutrina – que se tornou um dos paradigmas de Política Exterior dos EUA para a região – visava prevenir a recolonização, limitar a presença europeia e expandir a influência estadunidense na América Latina. Embora, em meados do século XIX, os EUA não tivessem capacidades suficientes para tanto, ao longo das décadas seguintes essa ambição virou realidade e o Hemisfério Ocidental tornou-se área de influência da referida potência.
A influência dos EUA, contudo, não foi exercida sem desafios. Como destacado por Nicholas Spykman (1942), até a Segunda Guerra Mundial, o principal obstáculo era europeu. Durante o conflito mundial, a Alemanha e a Itália buscaram exercer influência especialmente sobre a Argentina, dificultando a articulação hemisférica. Com o fim do conflito mundial e o início da Guerra Fria, a área foi reconhecida como parte do bloco Ocidental sob liderança dos EUA. Mesmo assim, a Revolução Cubana trouxe receios de que a situação poderia ser ao menos parcialmente revertida, caso houvesse outras revoluções e articulações com a URSS.
No período mais recente, contudo, o maior desafio parece decorrer da presença chinesa. Esta é importante em termos estratégicos, ainda que seja principalmente econômica e que o gigante asiático busque apaziguar possíveis reações dos EUA, enfatizando a noção de ganhos mútuos para as três partes. Atualmente, a China é o principal parceiro comercial de Argentina, Brasil, Chile e Peru, e os empréstimos do Banco de Desenvolvimento Chinês e do Banco de Importação-Exportação Chinês são bastante significativos. As viagens presidenciais latino-americanas para Pequim tornaram-se rotineiras, assim como a articulação da potência asiática com iniciativas regionais, a exemplo da realização das Cúpulas China-CELAC. Além disso, analistas estadunidenses usualmente destacam que os investimentos chineses possibilitaram financiamento aos governos de vertente bolivariana e antiamericana, sustentando-os no poder.
Assim, a ênfase econômica não torna a questão estratégica menos relevante. No caso dos EUA, a expansão comercial e financeira precedeu a militar. Antes das duas guerras mundiais, os principais atores extra regionais no âmbito militar eram os europeus: as missões de treinamento para as Forças Armadas sul-americanas vinham especialmente da França e da Alemanha (ROUQUIE, 1984). Já as principais importações de armamentos eram provenientes das empresas Schneider-Creusot, francesa, Krupp, alemã, e, em menor escala, a Vickers-Amstrong, inglesa (BANDEIRA, 2010). Foi apenas após 1945 que os EUA conquistaram maior influência sobre as Forças Armadas da região.
Contemporaneamente, apesar das modestas relações militares sino-latino-americanas, os chineses demonstram interesse em aumentar sua atuação no campo. O mais recente Livro Branco da China para a América Latina tem como tema central questões econômicas e de desenvolvimento, mas também afirma que a China irá promover intercâmbios e cooperação política e militar em alto nível. Nos últimos anos, a China participou de exercícios militares com Brasil, Chile, Argentina e Peru. Também cresceram os intercâmbios acadêmicos de oficiais militares com a Venezuela, Bolívia, Equador, Brasil, Chile e México. O aumento do contato entre os militares implica em conhecimento mútuo e reconhecimento chinês da logística e infraestrutura das Forças Armadas da região. A exportação de armas chinesas para a América Latina, que era insignificante nos anos 1990, ganhou algum ímpeto a partir de 2005, com exportações para Bolívia e Venezuela e a prospecção de vendas para a Argentina. Assim, gradualmente, a China torna-se uma opção de mercado.
Além disso, a cooperação em temas estratégicos, como o espacial, é significativa. Nesse campo, as relações entre Brasil e China já são tradicionais: o primeiro satélite conjunto binacional foi lançado em 1999, por meio do Programa CBERS (Satélite Sino‐Brasileiro de Recursos Terrestres). Ademais, em 2015, a China acordou com a Argentina a construção de uma estação espacial para a observação da Terra no país austral.
Como é de se esperar, a movimentação chinesa na América Latina não passa despercebida por Washington. Desde 2010, os generais responsáveis pelo Comando Sul destacam o cenário em seus discursos anuais no Congresso. Em 2010, o general Douglas F. Fraser declarou que o aprofundamento das conexões entre China e América Latina, por meio de investimentos de longo prazo e do aumento dos contatos entre militares, impacta no ambiente estratégico regional. Em 2013, John. F. Kelly, que então liderava o Comando Sul, afirmou que a redução do engajamento estadunidense resultaria em aumento da presença chinesa, russa ou iraniana na região, considerando que tais países buscavam aprofundar seus laços políticos, econômicos e militares.
Cabe ressaltar que a expansão da influência chinesa não é uma dinâmica linear: projetos acordados podem ser revertidos e as relações com os EUA permanecem de forte relevância para a região. Como exemplo, pode-se apontar que o acordo de 2015 entre a China e a Argentina para a construção de centrais de energia nuclear não se concretizará no curto prazo. Pouco tempo após a assinatura de um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), o presidente Maurício Macri declarou que as usinas não serão construídas em razão da situação fiscal que o país atravessa.
Nesse mesmo sentido, as mudanças políticas que ocorreram na América do Sul nos últimos anos são uma vitória para Washington, uma vez que ascenderam ao poder governos de vertente liberal, mais próximos da ortodoxia econômica e da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos. Outro exemplo da força regional da potência americana refere-se à importância do dólar, como fica claro pela volatilidade financeira gerada na Argentina após o aumento do preço da moeda americana.
Assim, apesar de ter sua hegemonia contestada por outros atores globais, os EUA permanecem como força de especial relevância para a região. Ao contrário do afirmado pelo Secretário John Kerry, a doutrina Monroe não acabou e os EUA continuam atuando para preservar sua área de influência no Hemisfério Ocidental. Como ressaltado por Tillerson, a doutrina ainda é relevante; nos parece que principalmente pela existência de um competidor de peso: a China.
A presença chinesa na região é um fator relativamente recente do ponto de vista histórico: trata-se, possivelmente, da principal mudança em relação ao século XX, não apenas em termos econômicos e financeiros, mas também geopolíticos. Significa que a América Latina volta a ser espaço de competição por influência entre as grandes potências – embora de forma discreta e com importância reduzida em comparação com outras regiões, como a Ásia-Pacífico. A competição ocorre especialmente do ponto de vista político-econômico, com desdobramentos nas relações entre as Forças Armadas, porém sem a hostilidade explícita e arriscada que ocorre, por exemplo, no Mar do Sul da China. Resta-nos refletir sobre o impacto da conjuntura sobre a América Latina e sobre quais as melhores estratégias para lidar com o contexto atual, que possam ampliar as margens nacionais de atuação e as possibilidades de autonomia no plano internacional.
Lívia Peres Milani é doutoranda em Relações Internacionais pelo PPGRI San Tiago Dantas e pesquisadora do Gedes.
Imagem: Obama White House Archive.
Referências:
BANDEIRA, L. A. M. Brasil-Estados Unidos: a rivalidade emergente (1950-1988). 1a edição ed. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 1989.
KERRY, J. Remarks on U.S. Policy in the Western Hemisphere. Organization of American States.Washington, DC: november 18, 2013. Disponível em: https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2013/11/217680.htm
ROUQUIÉ, A. O Estado Militar na América Latina. 1. ed. Santos: Editora Alfa Omega, 1984.
SPYKMAN, N. J. America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. New York: Institute of International Studies Yale University. Harcourt, Brace and Company, 1942.
TILLERSON, R. U.S. Engagement in the Western Hemisphere. University of Texas at Austin: february 1, 2018. Disponível em: https://www.state.gov/secretary/20172018tillerson/remarks/2018/02/277840.htm