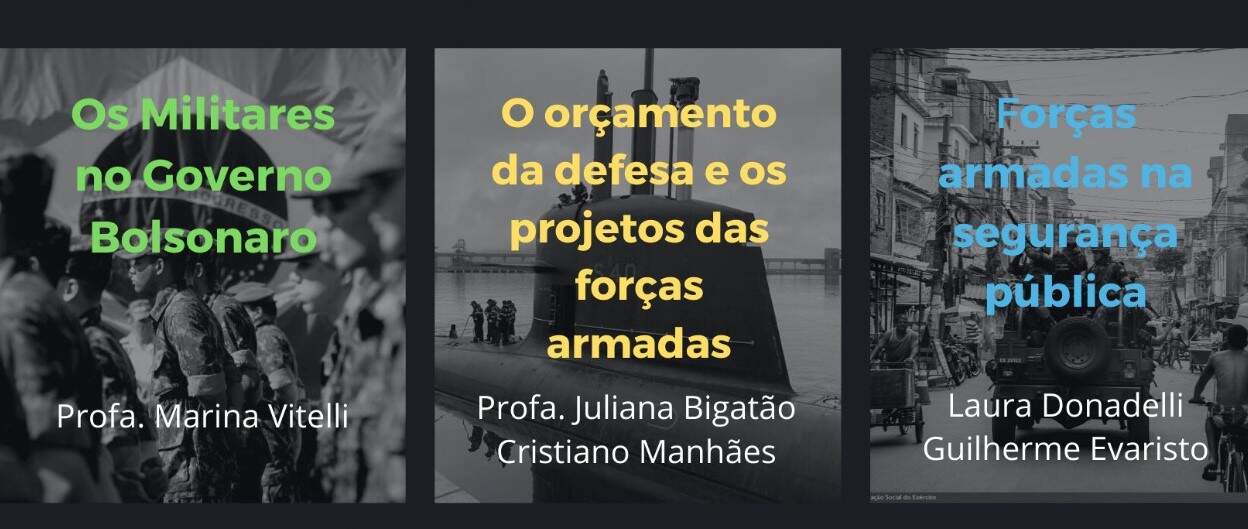O marechal Humberto de Alencar Castelo Branco garantiu para si um lugar permanente no anedotário político nacional com a seguinte declaração: “São as vivandeiras alvoroçadas que vêm aos bivaques bulir com os granadeiros e causar extravagâncias ao poder militar”. Castelo Branco se referia aos setores que buscavam nos quartéis a força que lhes faltava para depor João Goulart, acusado de comunismo por buscar a mais burguesa de todas as reformas: a agrária. Pois bem, os granadeiros atenderam ao chamado, deram o golpe, e o resto da história é bastante conhecido. Ou, ao menos, deveria ser.
É bem verdade que, atualmente, as circunstâncias são diversas. Aqueles interessados na varrição da esquerda do rol das alternativas políticas encontram hoje na toga préstimos muito mais eficientes do que aqueles prestados pelos coturnos. Persistem, porém, grupos que insistem em ver na intervenção das Forças Armadas a solução para os problemas do país, sobretudo a generalizada repulsa em relação à política e aos políticos. É difícil apresentar uma compreensão unívoca a respeito de tais grupos, mas é possível estabelecer alguns aspectos mais gerais. A racionalidade de fundo parece assumir que em um quadro de degeneração total do sistema político – percepção amplamente devedora da elevação da corrupção ao posto de problema número um do país – a única possibilidade de restauração da política, assimilada em termos da moral comum, do indivíduo, é a intervenção de um ator externo, apartidário, imparcial e com poder para domar a corrupção e impor a ordem e a lei, na sequência, devolver o poder à cidadania. Nesse sentido, interrompe-se a democracia degenerada por sujeitos amorais e purifica-se o sistema pela ação moralizante da caserna, entendida como reduto último do senso de nacionalidade corrompido por projetos de poder escusos. A crença no autoritarismo benevolente assume, assim, que o poder seria devolvido aos civis antes que a exceção se converta em regra.
As Forças Armadas não são atores alheios à política, tampouco imparciais, menos ainda representam um repositório de probidade. Sobre isso, o historiador Pedro Campos (2012, p. 469) afirma que “na ditadura, principalmente nos anos mais fechados, foram vistas poucas acusações contra impropriedades cometidas por construtoras, o que evidencia obviamente não o menor número de casos, mas o amordaçamento dos mecanismos de fiscalização e divulgação das irregularidades, que, crê-se, eram até mais frequentes que nos períodos de abertura política”. O excerto está contido na tese de doutoramento de Campos, publicada no livro “Estranhas catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988”, vencedor do Prêmio Jabuti de 2015.
Um aspecto ainda mais grave do ponto de vista da construção democrática é a leniência de certos setores com o passivo ético que o regime autoritário possui. Não importa que estes grupos sejam numericamente minoritários ou eleitoralmente inviáveis; que os microfones do parlamento sejam ocupados para render homenagens a torturadores sem que o orador seja punido com rigor por seus pares é um sintoma de que nossa democracia segue como tarefa pendente. Do mesmo modo, as manifestações em defesa de uma intervenção militar que ocorrem no país nos últimos anos deveriam ser objeto das mais explícitas e veementes objeções por parte dos atores políticos mais relevantes – neste caso, os comandos civis e militares das Forças Armadas.
O que se vê, no entanto, desde 2016, são declarações ambíguas e episódios que soam como declaração de prontidão da caserna para atender a tais pedidos. O episódio recente envolvendo o ministro da defesa em relação à paralisação dos caminhoneiros é um exemplo claro disso. Sendo o segundo na hierarquia de comando das Forças Armadas, a expectativa plausível, em uma democracia consolidada, é um inequívoco repúdio aos pedidos de intervenção militar. O ministro, todavia, entende que tais pedidos são expressões legítimas do direito de expressão. Houvesse governo, o ministro deveria, no mínimo, ser publicamente repreendido. Como o que existe em Brasília é um cadáver político insepulto, segue-se o cotidiano como se vivêssemos na normalidade.
Momentos como este explicitam a insuficiência do processo de transição ocorrido no Brasil, no que diz respeito à exposição dos crimes cometidos pelos militares quando no poder. Ressaltar o custo humano do autoritarismo e o quão insuportável para uma sociedade é o extermínio dos seus pelas mãos dos que têm na proteção da cidadania sua razão de existir é um elemento essencial da construção democrática. É preciso, em primeiro lugar, descontruir publicamente falácias travestidas de argumentos, como a tese dos “dois demônios” – muito popular entre a direita argentina na década de 1980, mas devidamente rechaçada no país.
Não existe equiparação possível entre aqueles que usam a violência em reação ao arbítrio do Estado e o uso sistemático da força contra a cidadania por parte dele. Para argumentar neste sentido não é preciso recorrer a nenhuma referência de esquerda. É bastante um tour de force pela filosofia política moderna, insuspeita de esquerdismos, para constatar a inteira legitimidade de o cidadão levantar-se contra o soberano quando este falha em prover aquilo que lhe é de dever. O filósofo inglês John Locke, pai do liberalismo supostamente defendido por algumas vivandeiras, faz uma defesa enfática do direito de resistência dos cidadãos frente ao soberano quando este se baseava da tomada do poder pela força. Mesmo em Thomas Hobbes – defensor do absolutismo – é possível encontrar espaço para uma defesa do direito de resistência do cidadão, em nome da preservação da vida.
É preciso, sobretudo, encampar um processo profundo de recuperação da memória do período autoritário, que exponha para o conjunto da sociedade os fatos que contrapõem a narrativa engendrada pelos militares e que se mostra predominante até hoje. Não se trata, evidentemente, de recorrer ao maniqueísmo e traçar quadros binários e pouco esclarecedores do período. Tampouco significa empregar eufemismos ou malabarismos retóricos e conceituais para justificar o arbítrio do regime. Para isto, revelações como a feita pelo professor Matias Spektor acerca do envolvimento da cúpula do regime no mando de execuções sumárias – são extremamente oportunas, embora insuficientes. É preciso que haja políticas públicas sérias, conduzidas por quem tem legitimidade para tal – os eleitos – com disposição para enfrentar aqueles que ainda se beneficiam da resistência dessas concepções e derrotá-los democraticamente, à luz do dia. Por esta razão, deve-se avançar sobre isto não em salas fechadas e em diálogos herméticos, mas no espaço público, de modo a ensejar um debate amplo e acessível ao conjunto da sociedade, no sentido de desmistificar o regime autoritário e expor como, para muitos, “anos de chumbo” é muito mais que uma metáfora.
Matheus de Oliveira Pereira é doutorando pelo PPG RI San Tiago Dantas e pesquisador do GEDES; é professor na Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP).
Imagem: Corredor restaurado e preservado com as grades da época do funcionamento do DEOSP no prédio do Memorial da Resistência de São Paulo (SP). Por: Larissa Isabelle Herrera Diaz.