
Etiqueta: guerra russo-ucraniana


Guerra na Ucrânia: armas inéditas intensificam escalada entre Ocidente e Rússia
23 de novembro de 2024

#494 O Ocidente potencializou a escalada do conflito na Ucrânia?
22 de novembro de 2024


Mapa Mundi: Trump x Kamala e a tentativa dos EUA em pausar a guerra de Israel
6 de setembro de 2024

Reação russa à intervenção da Ucrânia em Kursk: qual é a estratégia de Moscou?
30 de agosto de 2024

Cooperação Sino-Russa na Ásia Central
27 de maio de 2024

Todo mundo quer um cisne negro
6 de julho de 2023

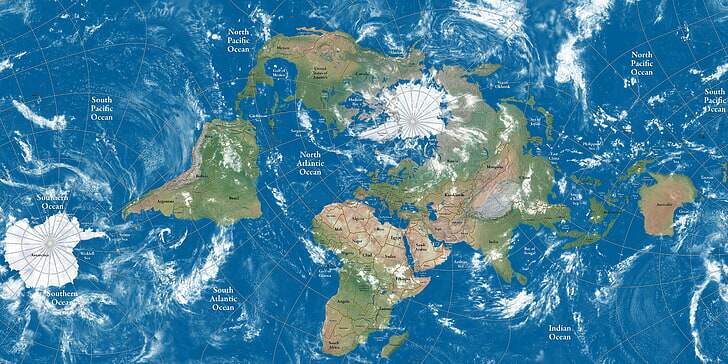
La Dinámica Política De Un Mundo Multipolar
27 de março de 2023
