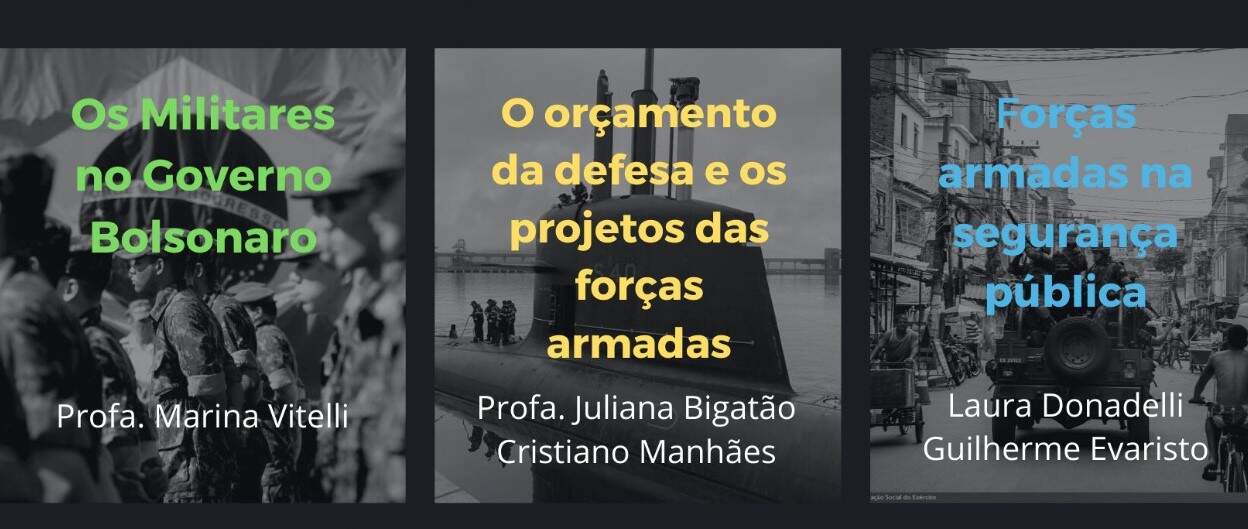“Mission accomplished.” – esse foi o termo empregado por Donald Trump para se referir aos últimos bombardeios aéreos realizados na Síria, em resposta a um ataque químico a civis, supostamente perpetrado pelo governo Assad. De modo simbólico, alguns jornais rememoraram o fato de que “mission accomplished” também era o que dizia uma faixa em frente a qual o presidente George W. Bush fora fotografado em 2003, seis semanas após a invasão do Iraque que, no último mês de março, completou 15 anos. A intervenção iraquiana, programada para durar “(…)cinco dias, cinco semanas ou cinco meses (…) Não mais que isso.” , segundo o então secretário de defesa Donald Rumsfeld, atingiu seu décimo quinto aniversário e, assim como a questão síria, parece tudo, menos uma “missão cumprida”.
A expressão é parte do léxico militar e, segundo o twitter do atual presidente republicano, é um termo “tão bom que deveria ser usado com mais frequência”. A operação, no entanto, parece corresponder menos ao tom cabalístico e conclusivo de Trump, e mais a apenas um entre tantos eventos que têm marcado o aumento progressivo da presença militar norte-americana em território sírio. Atualmente, os EUA contam com um efetivo de 2000 soldados e destinam pelo menos 1% dos gastos de defesa ao conflito no país.
No caso iraquiano, o caminho que pavimentou a invasão já foi reconstruído inúmeras vezes em textos, documentários, livros e toda a sorte de veículos informativos. Apesar de iniciados apenas em 2003, os bombardeios foram planejados após os atentados de 11 de setembro de 2001. A justificativa concedida ao Congresso norte-americano e à comunidade internacional – posse de armas químicas pelo governo de Saddam Hussein – foi desmentida depois do início da guerra pela CIA, em um dos episódios mais vergonhosos da administração Bush. Ainda assim, a presença militar estadunidense em território iraquiano foi preservada e o governo Hussein, derrubado, no que fora um nêmesis para a agenda neoconservadora desde os anos 1990.
Logo no início, o conflito iraquiano provou-se mais complexo e oneroso do que os planos iniciais. A partir da resolução 1483 da ONU, implantou-se uma Coalizão de Autoridade Provisória (CPA), liderada por autoridades americanas e britânicas, cuja função declarada era a promoção da transição política do país e a implementação de um sistema de governo democrático. Em 2006, o governo Bush, recém reeleito, incorporou oficialmente os esforços de nation building à estratégia norte-americana para o Iraque, apontando que a presença militar no país seria postergada, mesmo após a realização das eleições, em 2005, que empossaram o primeiro ministro Nouri al-Maliki. Nesse contexto, chama a atenção o fato de que, apesar de muito contestada em seu início, doméstica e internacionalmente, a guerra do Iraque parece ter, gradualmente, silenciado dissidências em ambas as esferas, o que garantiu seu prolongamento, mesmo com a elevação dos déficits públicos, e o caráter quase unilateral de sua execução.
Tal prolongamento também costuma ser atribuído ao processo de abertura do mercado iraquiano ao capital privado internacional, facilitado durante a invasão. Um estudo recente conduzido pelo projeto “Costs of War” da Brown University aponta que, mesmo antes da intervenção, os governos norte-americano e britânico já vinham fechando contratos com empresas privadas para a atuação na reconstrução, segurança privada e transferência de armamentos para o Iraque. Algumas dessas empresas, como o grupo Halliburton – que contava com o vice-presidente Dick Cheney em seu quadro de acionistas – também assumiu funções relacionadas à manutenção da segurança e exploração de reservas petrolíferas.
Ainda no que tange às empresas privadas militares, tanto a guerra do Iraque, quanto do Afeganistão, elevaram consideravelmente o emprego de soldados mercenários pelas potências interventoras. No caso dos EUA, a sobrecarga dos recursos militares provocada pela “Guerra Global ao Terror” fez com que a contratação de efetivos terceirizados fosse consideravelmente elevada, chegando a atingir uma proporção de 3 para 1 em relação aos efetivos regulares. A ausência de regulamentações mais restritas e as imunidades conferidas a esses indivíduos culminaram em uma série de abusos, cujo ápice foi o escândalo Blackwater, em 2007, no qual um grupo de mercenários abriu fogo contra 17 civis iraquianos.
Episódios como esse, somados à ampliação da rejeição iraquiana à presença estadunidense no país – bem como o aumento da resistência da própria opinião pública americana à guerra – levaram à negociação Bush-Maliki de um Status of Forces Agreement (SoFA), que, dentre outras coisas, estabelecia um cronograma de retirada das tropas norte-americanas até 2011 e regulamentava o caráter das relações bilaterais entre os EUA e o Iraque, garantindo que, mesmo após a retirada, a cooperação em segurança e defesa pudesse ser mantida.
Chegando ao poder, em 2009, Barack Obama – um opositor veemente da guerra do Iraque, desde os anos de Senado em Illinois – se propôs a cumprir a agenda de encerramento do conflito. Em 2010, o processo de diminuição de tropas em campo foi iniciado, a partir da transição da operação Iraqi Freedom (2003-2010) para a operação New Dawn (2010-2011). Em outubro de 2011, o presidente declarou oficialmente que a guerra no Iraque estava terminada, feito que se tornaria um importante capital político para sua reeleição, em 2012. Cumpre ressaltar, contudo, que o caráter da retirada foi essencialmente parcial, considerando que parte dos efetivos mercenários se manteve no país. Alguns inclusive fundaram, junto a agentes locais, empresas privadas iraquianas de segurança que lograram a privatização de boa parte do setor de segurança do Iraque, desde então.
O país voltou à mídia norte-americana em 2014, quando o grupo Estado Islâmico assumiu o controle da cidade de Mosul. O território, altamente fragmentado, econômica, religiosa e etnicamente, cedeu às investidas do grupo sunita, enquanto o governo Obama retomou os bombardeios na região e passou a advogar pela aprovação – não lograda até o presente momento – de uma nova Autorização para o Uso da Força Militar no Congresso americano, visando à atuação estadunidense mais limitada e defensiva nas áreas dominadas pelo ISIS. Em 2017, quando Obama deixou o governo, a “presença limitada e restrita” já totalizava 8900 efetivos, entre os territórios de Iraque e Síria, segundo o Departamento de Defesa.
O sucessor de Obama, Donald Trump, também ascendeu à presidência referindo-se à guerra do Iraque como a “pior decisão da história americana”. Todavia, o tom trumpista foi se alterando com o passar do tempo. Em discursoperante a comunidade de inteligência, proferido em 2017, o presidente afirmou que os EUA deveriam ter “ficado com o petróleo do Iraque”, quando tiveram a chance. Posteriormente, em nova declaração, Trump observou que a potência norte-americana nunca deveria ter saído do território iraquiano. A estratégia de segurança nacional de 2017 (NSS 2017), publicada em dezembro do ano passado pela presidência faz também algumas rápidas menções ao Iraque e à Síria, observando que, mesmo após as vitórias da coalizão ocidental sobre o Estado Islâmico – como a retomada de Mosul – a ameaça do terrorismo se mantinha, exigindo a continuidade das ações americanas na região.
Para além das palavras, o governo Trump pediu ao Congresso um montante de US$ 1.269 bilhões – ainda a ser aprovado para o ano fiscal de 2018 – para o financiamento de atividades de cooperação em segurança e transferência de armamentos ao Iraque. Em março de 2018, o atual premiê iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou que ele e o presidente Trump estariam renegociando os termos do Status of Forces Agreement, de modo que as bases militares americanas no país fossem mantidas, mesmo após a vitória sobre o Estado Islâmico.
Até agora, os balanços, não só da guerra do Iraque, mas da chamada “Guerra Global ao Terror”, de modo geral, apontam para mais de 350 mil mortos e um rombo de quase US$ 5,6 trilhões nos gastos públicos estadunidenses. Estimativas recentes projetam que esse valor ainda pode atingir a casa dos US$ 7 trilhões, se considerados os encargos da dívida acumulada e o inchaço nos serviços de saúde e manutenção de famílias de veteranos de guerra. A porcentagem de soldados contratados em relação às tropas regulares é menos precisa, mas segundo reportagem da revista The Atlantic, já atingia pelo menos 50% no Iraque e no Afeganistão, em 2016. Seu emprego se tornou uma forma eficiente de reduzir os custos políticos de fazer a guerra nos EUA, à medida que nem o Congresso e muito menos a opinião pública têm acesso aos dados exatos sobre os gastos com oficiais contratados.
E, ainda assim, para 43% dessa mesma opinião pública, a invasão norte-americana no Iraque é considerada, em 2018, “uma decisão correta”, de acordo com uma pesquisa do instituto Pew Research Center. Opinião similar é sustentada e verbalizada por acadêmicos e pesquisadores de think tanks de renome, segundo os quais os EUA não podem e não devem deixar o Iraque nesse momento.
A justificativa é a aproximação das eleições legislativas iraquianas, a serem realizadas em maio desse ano, e que trazem como “novidade” o aumento do protagonismo das forças políticas curdas e de milícias associadas ao Irã, ambas as quais desempenharam importantes papeis no combate ao Estado Islâmico. Alguns desses grupos se opõem à manutenção da presença estadunidense no Iraque e na região. É possível, portanto, que os resultados dessas eleições, que também culminarão na escolha de um novo primeiro ministro, exerçam grande impacto sobre a geopolítica do Oriente Médio. O imbróglio pela definição da arquitetura regional, envolvendo Iraque, Irã e aliados norte-americanos, como Arábia Saudita e Israel, tem ainda como pano de fundo as negociações do acordo nuclear iraniano, que não teve um destino definido pelo governo Trump.
Esse, por fim, continua a se cercar de figuras conservadoras, muitas das quais foram defensoras veementes da intervenção no Iraque, em 2003, como o novo Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton. Com essas questões em mente, podemos afirmar que a missão no Iraque não se cumpriu e nem pretende se cumprir no curto ou médio prazo. Ela permanece, indefinida e deliberadamente, no arsenal das guerras estadunidenses esquecidas do século XXI.
Imagem: Tanques em Bagdad durante ocupação do Iraque. Por: By Shockabrah, CC, Wikimedia Commons.
Clarissa Forner é doutoranda em Relações Internacionais pelo PPG RI San Tiago Dantas – UNESP/UNICAMP/PUC-SP e pesquisadora do Gedes.