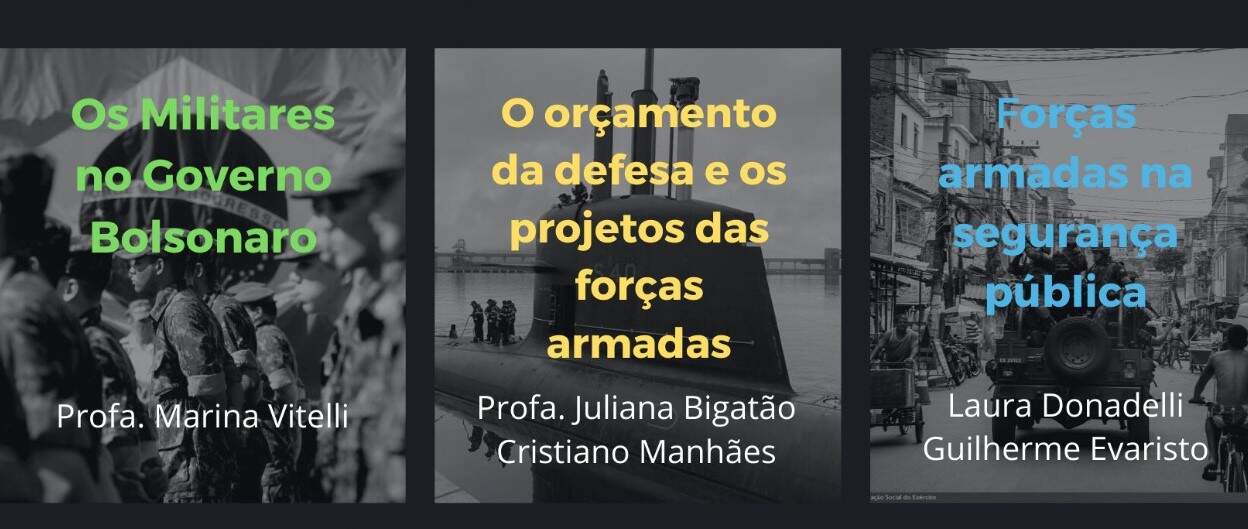A utilização de automóveis para atingir indivíduos em locais públicos vem se mostrando uma forma recorrente de praticar atentados terroristas. Do ano passado até o presente momento, dois casos talvez sejam os mais emblemáticos: o de Nice, em julho de 2016, e o de Mogadíscio na Somália, que apesar de menos midiatizado que eventos com menos casualidades como os de Berlin e Londres, produziu pelo menos 300 mortes.
Antes e durante a minha exposição na Band News sobre o incidente que ocorreu em Nova York, percebi que também talvez tenha mais perguntas do que respostas, ou pelo menos respostas diferentes do que as comumente oferecidas por figuras públicas e alguns meios de comunicação para as costumeiras perguntas que surgem após momentos como o do dia 31 de outubro. De que forma o terrorismo mudou ao longo do tempo e como podemos olhar para história a fim de buscarmos ideias para o futuro? Existe alguma racionalidade por detrás desses atos – tanto do ponto de vista individual quanto organizacional? Quais são os meios para evitar que tais incidentes se repitam?
Em primeiro lugar, e sem nenhuma surpresa, as denominações de algo como um ataque terrorista são sempre atos políticos. Enquanto historicamente grupos como o IRA (Exército Revolucionário Irlandês) e o ETA (Pátria Basca e Liberdade) foram enquadrados na lógica do terrorismo, o Movimento de Resistência Afrikânder, o qual perseguia negros no sistema do apartheid, não era visto como terrorista pela elite branca na África do Sul. O mesmo se repete nos dias atuais. O ataque em Las Vegas, no qual um americano da janela de um hotel atirou em cidadãos que acompanhavam um festival, apesar de ter gerado mais de 50 mortes não foi intitulado pelo presidente Trump como um ato terrorista, mas apenas como ato vindo de um “homem doente”. No dia 31 de outubro, no entanto, pouco tempo após a divulgação na mídia de que o suspeito pelo ataque seria um nacional do Uzbequistão, a segunda publicação de Trump no Twitter foi declarandoque os Estados Unidos não poderiam permitir o retorno do ISIS ou que integrantes do grupo entrem no país e ameacem americanos. A comparação desses dois casos atuais nos sinaliza para este componente político na definição do que é ou não terrorismo. Ainda, ela nos mostra que fatores identitários de familiaridade e desconhecimento – tais como diferenças de nacionalidade, de religião, ou de pertencimento cultural, em um sentido mais amplo – talvez sejam a principal característica que fomenta essa rotulação enviesada.
Em 1 de novembro, no recrudescimento de políticas nacionais conservadoras que visam responder ao incidente do dia anterior, Trump advogou pela reformulação do Diversity Visa Lottery Program. Identificado enquanto meio pelo qual o cidadão uzbeque entrou em solo americano, este Programa visa conceder vistos para nacionais de países com baixa taxa de imigração para os Estados Unidos. Segundo Trump, o Lottery Program deveria ser transformado em um programa baseado na meritocracia. A proposta de Trump, se não totalmente vaga – afinal, o que define meritocracia? – é um tanto preconceituosa e distante dos ditos ideais norte-americanos. Preconceituosa pois assume que indivíduos com certas características – seja desde baixa escolaridade até pertencimento a grupos étnicos específicos – são terroristas em potencial; e distante dos ideais norte-americanos pois vai contra toda a lógica dos Estados Unidos como uma nação de imigrantes na qual qualquer cidadão que aqui se estabelecer tem todas as condições para prosperar.
Sobre a identificação de uma possível racionalidade, a melhor resposta que eu poderia dar seria a da identificação de um estado de coisas que fomenta desigualdades e, aos olhos dos ‘terroristas’, injustiças. E isso talvez valha tanto para a esfera nacional quanto a internacional. Nos Estados Unidos, o crescimento em exposição de movimentos de supremacia branca, atitudes violentas contra mulheres muçulmanas que usam qualquer tipo de véu ou até mesmo políticas governamentais, como a que propõe a criação de um muro entre Estados Unidos e México, são apenas exemplos de uma guinada conservadora que se apropria do medo para avançar certas agendas e afastar indivíduos. No plano internacional e na chamada “guerra contra o terror”, a conclusão que chego depois de quase um ano de pesquisa em Washington e entrevistas com pessoas de diversos setores – acadêmicos, diplomatas e membros de agências de inteligência – é que a ação armada contra o terrorismo não funcionou. Alguns analistas podem até aventar o argumento de que a ausência de um novo ataque aos Estados Unidos à la 11 de setembro é motivo suficiente para provar a eficiência das ações da política externa norte-americana. No entanto, não existe nenhuma evidência que comprove essa relação de causalidade e, se por um lado a intervenção no Afeganistão contribuiu para desorganizar a Al Qaeda, por outro a intervenção no Iraque muito contribuiu para o surgimento do ISIS. De modo ainda mais preocupante, a militarização da máquina de política externa dos Estados Unidos, que se intensificou na guerra ao terror, permitiu a substituição de instituições civis e da diplomacia por instituições militares no processo de reconstrução de países como Afeganistão e Iraque. O que o establishment de política externa norte-americana esquece é que não é banal o peso simbólico que tanques e comboios militares, em vez de agências humanitárias, exercem no imaginário dos nacionais desses países e do mundo. Isso, no entanto, é apenas a ponta do iceberg que deixa para uma próxima discussão os escândalos de tortura cometidos pelos Estados Unidos e as operações cirúrgicas autorizadas por um AUMF (Authorization for Use of Military Force) ainda de 2001, as quais continuam via drones ou special forces eliminado alvos pontuais em qualquer região do globo.
Para finalizar, a ação armada contra o terrorismo não só fomenta novos ataques como dissemina a insegurança. Por isso que a ‘guerra ao terror’ falhou e vai continuar falhando. O terrorismo precisa ser tratado pela via da criminalização, submetendo os indivíduos responsáveis aos critérios jurídicos nacionais e internacionais disponíveis, e não da militarização. O anseio por segurança e ‘justiça’ (palavra usada pelo Governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo) não podem gerar um revanchismo que perde de perspectiva o compromisso com os direitos humanos e com as instituições democráticas. Ainda, e de modo mais abrangente e sistêmico, o terrorismo de cunho internacional é primeiramente uma questão social. Dessa forma, perguntas como ‘o que gera o terrorismo’, ‘como esses grupos ganham força’, ‘como eles alcançam seguidores’ precisam ser respondidas antes mesmo que reações hiperbolicamente militares sejam lançadas. Como toda questão que passa a ser vista como um problema de segurança, mas tem por origem uma disrupção no tecido social, acabar com as condições para que grupos se valham do terrorismo e se fortaleçam passa inevitavelmente pela busca de melhores condições de desenvolvimento para certas regiões. Mas não o desenvolvimento que vem atrelado ao aparato militar, que como apontado anteriormente não só tem um peso simbólico inquestionável, mas principalmente traz consigo as capacidades de securizar a questão. Só apenas com a garantia de infraestrutura e desenvolvimento econômico por meio de agências humanitárias e de cunho civil que grupos como o ISIS vão perder força no local em que estão situados e suas ideologias terão cada vez menos condições de reverberar e produzir essa capilaridade tão assustadora que coopta indivíduos a quilômetros de distância.
Imagem: Marinheiros dos EUA embarcam para dar apoio à Guerra Global ao Terror. Por: U.S. Navy.
Bárbara Motta é doutoranda em Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP) e pesquisadora do GEDES.