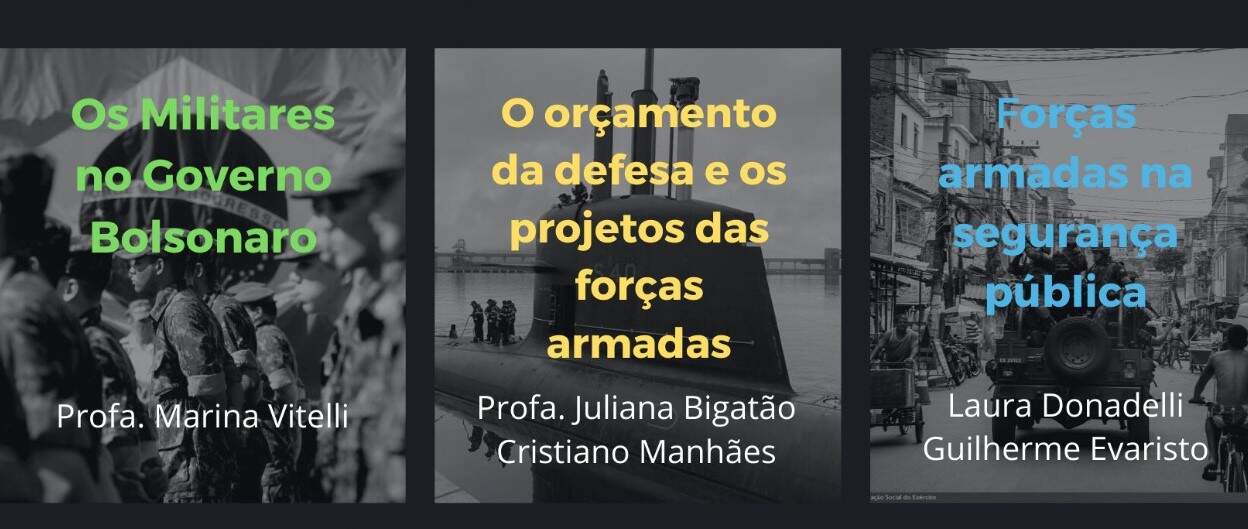Lis Barreto
Como cidadã de um País que viveu 21 anos de ditadura militar e possuidor de uma democracia que logrou chegar aos 30, mas que ainda tem dificuldades em se consolidar, é difícil olhar para a composição do governo Bolsonaro e não se intrigar com a quantidade de militares envolvidos nele. Será que as coisas não mudaram tanto assim, de lá para cá?
A participação militar na política brasileira é de longa data. Nossa República foi declarada através de um golpe militar e de 1889 até hoje, a história brasileira foi marcada por intervenções militares que destituíram e instituíram governos, levando-nos de um grupo civil ao outro, até que, em 1964, foi dado o golpe que estabeleceu o poder para os próprios militares.
À época, os acadêmicos e políticos não se surpreenderam com a intervenção militar em si. Militar intervindo na política e atuando como um tipo de “poder moderador” era algo tão corriqueiro, tão tradicional e enraizado, que dificilmente impressionava. A cooptação dos militares por elites políticas civis era uma instituição informal bem estabelecida e tanto os ocupantes do Executivo quanto sua oposição recorriam, quando fragilizados, ao apoio militar para fazer a balança ir ao seu favor.
Foi esse perigoso jogo estabelecido entre elites civis e jogado durante quase um século que, ao fim, queimou a todos. O golpe de 1964 foi apoiado por elites que não voltaram a recuperar o poder tão cedo e que descobriram que a repressão e censura não eram apenas para seus opositores, ainda que estas se manifestassem de formas desiguais entre os grupos políticos e sociais[1].
Na década de 1980, com a abertura política e iniciada à transição para a democracia, um novo pacto entre elites civis foi firmado e uma nova Constituição, promulgada. Nela, a participação militar não era nem legitimada, nem objetivamente vedada. Esta ambiguidade foi resultado de uma transição negociada, em que os civis da Subcomissão de Defesa, com suas visões tão acostumadas à política como ela sempre havia sido, pareciam não conseguir visualizar um funcionamento político que alijasse completamente a presença militar. A verdade é que haviam estado tanto tempo dependentes da participação militar para dirimir suas disputas políticas, que lhes soava improvável a capacidade de construir um sistema político que funcionasse por si só.
Com todas as críticas que possam ser feitas à Carta de 1988, ela logrou funcionar e sobreviver. As crises políticas, como previsto, nunca deixaram de existir, mas as elites civis encontraram outras formas de se confrontar, muitas vezes dentro das regras do jogo, algumas vezes manipulando-as. Contudo, nunca através da intervenção militar direta. Parecia que após 21 anos de restrições políticas por brincar com forças que não podiam controlar, as elites civis finalmente teriam entendido que valia mais a pena esperar 4 anos para voltarem a brigar pelo poder.
Entretanto, o jogo democrático é para quem sabe jogar. Melhor dizendo, para quem aceita jogar. Quando as turbulências políticas e econômicas que emergiram em 2013 decidiram atacar não apenas ao governo, mas às regras do sistema político, um pacto começou a se desintegrar. Naquele marco, víamos que 25 anos foram suficientes para começar a borrar os riscos de brincar com fogo, pois tornavam-se claras as tentativas de, novamente, tornar os militares os fiéis da balança, independente da escolha das urnas.
Apesar dos percalços, a democracia ainda se manteve e se mantém. As urnas se viram respeitadas e o procedimento democrático ainda existe. Contudo, como bem observou Alfred Stepan, ainda na década de 1970, a cooptação militar não era só feita por elites de oposição que queriam o poder para si, ela era feita por qualquer elite política que se encontrasse fragilizada no jogo político, o que inclui o próprio Poder Executivo. Isso quer dizer que um Presidente sem apoio político para governar pode ser enquadrado nesta categoria[2].
Após 1988, os dois casos de Presidentes sem apoio político terminaram em renúncia e impeachment. Collor e Rousseff são casos muito distintos, mas ambos provaram do dissabor da falta de apoio político no Congresso para governar e se manter, e deixaram clara a mensagem de que quem não tem apoio, cai. Mensagem muito bem assimilada por Bolsonaro.
Não precisava ser nenhum grande entendido de política para saber, já em 2018, que a vitória de Bolsonaro nas urnas ia resultar em um Presidente frágil. Sem um partido forte, sem uma coligação e, posteriormente, uma coalizão estável, desde a campanha Bolsonaro retomou a postura antiga de buscar seus aliados nos militares, o que fica evidente na escolha do seu vice. E por mais que os militares não mais se enquadrem na visão de “Partido Fardado”[3], como denominou Oliveiros Ferreira, e não atuem como atores principais que dispõem de uma agenda própria para o poder político, eles cumprem perfeitamente a função coadjuvante desejada por seu cooptador: de modificar o peso político dos atores. Quanto mais Bolsonaro balança, mais militares entram no governo e, assim, aquele segue sem cair. Mas até quando? Ou melhor, a que custo?
O que é possível dizer até agora é que voltamos a brincar com fogo. O crescimento de militares no governo retoma memórias de um passado que se recusa a morrer, o hábito de resolver disputas políticas cooptando militares, que parecia esquecido, mas que, talvez por nunca ter sido eliminado de forma consciente e objetiva, volta quando o sistema se encontra duramente questionado e fragilizado. É um momento de autoanálise política, da razão pela qual repetimos certos padrões. Acredito que a chave para começarmos entender foi apontada por Stepan em 1975 “[…] o fenômeno que existe em muitos países da América Latina – e que precisa ser analisado – não é o ‘militarismo’, mas o ‘militarismo civil’”[4]. É entendendo o mecanismo de funcionamento desta mentalidade militarista por parte dos civis, que acredita que a presença militar na política não é apenas positiva como necessária, que será possível alterarmos esse padrão de comportamento.
Lis Barreto é doutoranda em Ciência Política em regime de cotutela entre Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de Lisboa, mestre pelo PPG RI San Tiago Dantas (UNESP/UNICAMP/PUC-SP). Orientadores: Simone Diniz (UFSCar); Andrés Malamud (Ulisboa)
[1] STEPAN, Alfred. Os Militares na Política. As mudanças de padrões na vida brasileira. Rio de Janeiro: Artenova. 1975, p. 159-163.
[2] STEPAN, Alfred. Os Militares na Política. As mudanças de padrões na vida brasileira. Rio de Janeiro: Artenova. 1975.
[3] FERREIRA, Oliveiros. Vida e Morte do Partido Fardado. São Paulo: Editora Senac. 2000.
[4] No contexto, A. Stepan usa a frase para ilustrar o peso que os civis tiveram para sancionar e legitimar as intervenções militares na vida política brasileira. STEPAN, Alfred. Os Militares na Política. As mudanças de padrões na vida brasileira. Rio de Janeiro: Artenova. 1975, p.52.
Imagem por: Ministério da Defesa; Flickr.