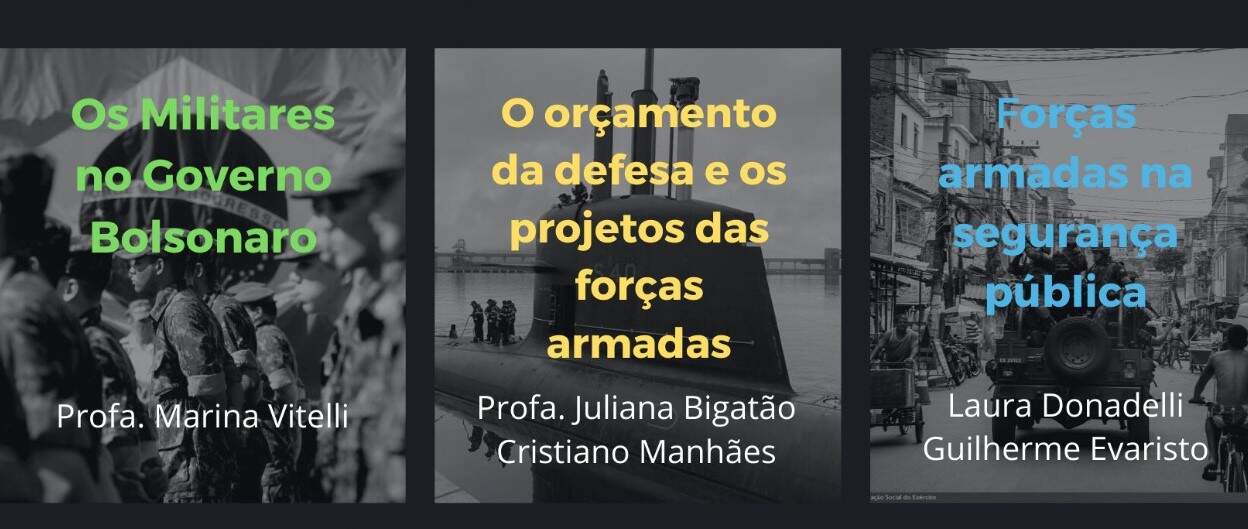As notícias das crianças imigrantes separadas dos pais e enjauladas em centros de detenção nos Estados Unidos foram reproduzidas ao redor do globo gerando reações de indignação. É a política de “tolerância zero” instaurada pelo governo contra as pessoas que atravessaram as fronteiras, tratando-as como criminosos, que justifica esta hedionda prática. Uma vez que os infantes não podem ser incorporados às prisões regulares, a saída administrativa encontrada foi encarcerá-los em campos próprios. A prática da Administração Trump escancarou um perverso lado do país: a arbitrariedade do Estado norte-americano ao incorporar e, em geral, renegar, normas essenciais de direitos humanos.
A hipocrisia estadunidense neste campo não é recente, e é bem conhecida por especialistas e articulistas da opinião pública: seja na manutenção da base de Guantánamo ou no banimento de vistos para muçulmanos, as ações do Estado no plano interno e externo desafiam seu discurso recorrente sobre a missão em promover os direitos humanos pelo mundo, e mais, atingem diretamente os vetores normativos da governança global para proteção dos indivíduos.
Um exemplo patente deste comportamento é o fato do país ter sido o único em todo o planeta a não internalizar a Convenção sobre os Direitos das Crianças (1989), impedindo a responsabilização do Estado a partir deste expediente internacional pelo cometimento das violações na fronteira. Esta relação tensionada não é exclusividade da proteção infantil. Apesar da eloquente retórica dos Estados Unidos que colocam a si mesmos como missionários da promoção dos direitos humanos no mundo, o país é pouco afeito às vinculações internacionais do tema. Dentre a gama de tratados para as variadas vertentes de proteção, são ratificados no ordenamento interno dos norte-americanos apenas cinco, o que os assenta nos piores estratos do globo sobre o tema, unindo-se, por exemplo, a Arábia Saudita, Israel, Sudão do Sul e Haiti.
Em ato contínuo à divulgação da crise fronteiriça, os Estados Unidos se retiraram do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O discurso da Representante Permanente na Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Haley, que oficializou a derrogação, expressou a paradoxal relação do país com este setor de princípios internacionais: usou da caracterização do órgão como hipócrita, por ter em sua composição países notadamente violadores de dimensões protetivas, e referenciou uma vez mais a cruzada americana sobre direitos humanos. Neste momento crítico, o rompimento cristaliza a debandada do país de aparatos normativos e instituições cruciais das últimas décadas – como, para além do próprio Conselho, a denúncia ao Acordo de Paris sobre o clima e ao tratado sobre a política nuclear iraniana -, isolando-o cada vez mais no plano global e relembrando o completo desprezo dos seus dirigentes pela dignidade das pessoas.
A postura desafiadora dos postulados civilizatórios do sistema internacional – isto é, de parâmetros mínimos de amparo às pessoas acordados na governança como as próprias garantias sobre a proteção infantil – não é exclusividade do atual governo, o antecessor republicano George W. Bush também foi profícuo no rompimento com alicerces da estrutura do Sistema ONU gravemente exemplificado pelas invasões no Oriente Médio na inauguração da “Guerra ao Terror”. O uso desta retórica subversiva dos significados protetivos à dignidade humana escancara as fraturas de legitimidade, dotada de acusações de imperialismo ocidental, que tem o regime internacional de direitos humanos.
E nem só de republicanos vive a falência moral da governança; o envolvimento ilegal do democrata Bill Clinton no conflito da então Iugoslávia se lastreava na ideia de que a “superpotência sobrevivente” deveria prezar pela expansão de governos democráticos como registro da vitória liberal. Já o simpático presidente Barack Obama usou dos respaldos multilaterais para arguir a licitude do questionável uso de drones e demais instrumentos contemporâneos de vigilância ao redor do globo, relembrando toda a Comunidade Internacional do descompasso entre seus discursos e a realidade concreta da atuação americana (MODIRZADEH, 2014).
Contudo, sob o comando de Donald Trump, a problemática arenga estadunidense desvalorizadora da evolução do regime multilateral dos direitos humanos se faz mais voraz. O tom furioso dos porta-vozes e do presidente sobre as instituições internacionais e suas fundações fragiliza ainda mais a posição do país de fiador da ordem internacional – comportamento este que é adicionado à implosão das prerrogativas sustentadoras da governança global construída por esta potência ao longo do século XX. A gravidade exponencial disto acontece porque não se trata de um desafiante contestador pondo em xeque a legitimidade dos regimes, mas sim de um protagonista que esteia esta configuração como expressão do seu poderio decisório dos rumos da estrutura internacional. Se antes os governos tentavam clamar pela legalidade dos seus atos contraditórios, agora seus representantes professam claramente sua repulsa pelas instâncias multilaterais.
O risco enfrentado por esta seara de concertação neste momento é que as balizas mínimas de proteção sejam desmoronadas por déficit de legitimidade e inação institucional, agudizando fortemente a já problemática situação dos direitos humanos no globo, uma vez que seu avalista mais evidente (ainda que hipócrita) passou a desacreditá-lo diretamente. As dificuldades do regime não devem levá-lo à irrelevância, nem se pode descartar a importante evolução neste tópico que marcou o papel contemporâneo do Direito Internacional e suas entidades. Foi exatamente a ideia relativa aos “direitos humanos” que viajou no tempo e no espaço como força motriz para fazer avançar o ímpeto internacional de proteger vidas e conceder direitos angulares; abrir mão dela é retroagir para um estágio catastrófico da História.
Em um momento em que se identifica a recusa em reconhecer direitos a állos, é prudente recordar as palavras de Brecht em Intertexto para evitar seu angustiante prognóstico: “agora estão me levando, mas já é tarde; como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo”. Assim, é grande a frequência de práticas que violam direitos e liberdades fundamentais de indivíduos ao redor do globo. Da negativa ao acolhimento de refugiados por Estados europeus e pela administração ianque às acusações de práticas sumárias pelas forças policiais brasileiras, perpassando os conflitos contemporâneos que tolhem vidas e direitos, revela-se necessário aprofundar os instrumentos de proteção internacional aos indivíduos, sob a inquietante perspectiva de possibilitar um viver emancipatório a todos.
Por isso, a insistência estadunidense em se tornar cada vez mais um “fora da lei” internacional, atentando seriamente à dignidade humana dentro e fora de suas fronteiras, acrescenta ao temor quanto ao futuro da proteção desta dimensão fundamental da constituição contemporânea. O adágio arendtiano sobre a ruptura da Modernidade e sua crise política (ARENDT, 1979) parece se reafirmar na retirada do país do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas constatando um agravamento do diagnóstico de que a potência instrumentaliza o discurso favorável aos direitos fundamentais como alternativa para justificar sua atuação no cenário internacional.
Letícia Rizzotti Lima e Leonardo Dias de Paula são mestrandos em Relações Internacionais pelo PPG RI San Tiago Dantas e pesquisadores do Gedes.
Imagem: Sala do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Por: Ludovic Courtès.
Referências:
ARENDT, Hanna. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva. 1979.
MODIRZADEH, Naz K. Folk International Law: 9/11 Lawyering and the Transformation of the Law of Armed Conflict to Human Rights Policy and Human Rights Law to War Governance. Harv. Nat’l Sec. J., v. 5, p. 225, 2014.